Durante o fim de semana passado encontrei um amigo e li um livro.
Não direi o nome do amigo por razões óbvias. Conheci X nos anos 80, quando ele era segurança num hotel onde eu me hospedava com frequência. Desde então, trocamos regularmente notícias sobre família, trabalho etc.
Um ano atrás, depois de um penoso período de desemprego e bicos, X conseguiu um cargo mais estável, como motorista de "valet parking". Aprendi nessa ocasião que, em São Paulo, o "valet parking" é frequentemente um serviço terceirizado. O vínculo dos motoristas não é com os estabelecimentos onde exercem seu ofício, mas com empresas prestadoras de serviço.
X tem dois filhos. Seu salário está por volta de R$ 280 por mês -sua mulher não pode trabalhar em tempo integral e ganha menos do que ele. As gorjetas que ele recebe não são muito significativas: quando o serviço é cobrado e não oferecido, os clientes acham que já pagaram o devido. O horário de trabalho vai do meio-dia à madrugada. No caso dos restaurantes (o mais frequente), há poucos clientes entre o almoço e o jantar. Portanto, a empresa outorga um generoso intervalo de três ou quatro horas. Os motoristas moram longe demais para voltar para casa, descansar, ver os filhos etc. Ficam numa parada forçada que é chamada de repouso e serve para que não surja a questão das horas extras.
Apesar dessas condições que nos parecem pouco ideais, X estava feliz de ter conseguido, enfim, um trabalho fixo. Eis que, acidentalmente, ele danificou um carro. O seguro das empresas de "valet parking" tem uma franquia, geralmente, de R$ 1.000. Em caso de acidente, quem você acha que pagará os danos até o valor da franquia? Você deve ter adivinhado: o funcionário.
Disseram a X que, com a crise, não havia como a empresa assumir a fatura, mas que (de novo, "generosamente') deixariam que ele pagasse aos poucos. Durante os próximos meses, o salário de X será a metade do que era, até o reembolso completo dos danos.
É normal que a empresa prefira que os funcionários não batam os carros que lhes são confiados. Seria compreensível que ela instituísse regras do tipo: quem bate duas vezes num mês procure um emprego diferente. Mas aqui trata-se de outra coisa: a atividade empresarial repassa sistematicamente seus riscos ordinários e sua responsabilidade para os funcionários.
X poderia recorrer à Justiça do Trabalho. Ganharia, mas acabaria perdendo seu emprego. E a reputação de encrenqueiro fecharia qualquer possibilidade de trabalho no ramo. Melhor deixar uma eventual ação trabalhista para depois da aposentadoria, mas será tarde para as necessidades imediatas de seus filhos pequenos.
Com o salário cortado pela metade e sobretudo com a sensação de que a lei existe e pode até ser justa, mas não vale para ele, por que X não escolheria a delinquência? Afinal, ele é vítima de um abuso contra o qual a lei quer e pode ampará-lo, mas descobre que a sociedade, no seu caso, torna a lei inoperante. Ou seja, há um pacto social, mas do qual ele é excluído à força. Por que, então, respeitar as regras?
O relato dos apertos de X acompanharam minha leitura de "Cidadania no Brasil o Longo Caminho", de José Murilo de Carvalho (Civilização Brasileira), que, de maneira concisa, clara e indispensável, percorre a história dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil.
No fim do livro, esta declaração: "José Bonifácio afirmou que a escravidão era um câncer que corroía nossa vida cívica e impedia a construção da nação. A desigualdade é a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a constituição de uma sociedade democrática".
A desigualdade da qual se trata não é apenas de renda. Também, hoje, não é propriamente uma desigualdade civil ou política, pois, segundo a letra da lei, não há mais, entre nós, cidadãos de segunda classe.
O lugar de nosso maior mal-estar social parece estar no descompasso entre esse princípio formal e a realidade concreta. Acontece que os cidadãos das camadas mais pobres estão mudando a imagem que eles têm de si mesmos. X, por exemplo, sabe que ele não é nem servo nem escravo: ele tem direitos. Mas, ao mesmo tempo, ele é levado a tolerar uma punição e a mostrar gratidão, como um escravo. Por quê? Será que a lei não é clara? Precisa melhorá-la ou implementá-la melhor? Infelizmente, o problema, nessa altura, parece ser de solução mais difícil, pois ele é cultural ou mesmo francamente psicológico: reside na representação das classes "inferiores" no espírito de uma boa parte das elites. Coquetel complicado: os desfavorecidos começam a acreditar na igualdade dos direitos e a se ver como possíveis cidadãos. No entanto, muitos favorecidos seguem percebendo ao redor (e abaixo) de si apenas um exército de servos e escravos -para os quais imaginam e querem, por exemplo, que valha a regra: "Quebrou um prato? Leva açoite e fica sem comida!".
A violência que assola as últimas décadas não precisaria de outra causa. Bastaria esta contradição.
quinta-feira, 26 de julho de 2001
quinta-feira, 19 de julho de 2001
Polícia em greve
Em qualquer democracia, mesmo ideal, é necessário que haja uma força de polícia para manter a ordem e implementar as leis que os cidadãos se dão e às quais eles se submetem de um comum acordo. Parece haver duas maneiras opostas de instituir uma polícia.
Primeira possibilidade. Talvez para conter os gastos, os cidadãos procuram candidatos alhures -por exemplo, num país chamado Miséria, cujos habitantes aceitam trabalhar por salários de mera sobrevivência, ou seja, sem nenhum lustre social. Eles contratam, assim, soldados e cabos a preço de banana, enquanto a comunidade fornece apenas os oficiais.
A tropa arregimentada dessa forma dificilmente pode ter um verdadeiro compromisso com a comunidade, pois não faz parte dela: trata-se, de fato, de uma tropa só mercenária. Os homens são escolhidos por virem de Miséria e são mantidos na exclusão pela retribuição medíocre e pela distância social. Excluídos da comunidade, eles podem, com razão, considerar-se tão fora-da-lei quanto os bandidos que é sua tarefa reprimir. Aliás, é com isso que eles amedrontam os infratores (e não só eles), estando dispostos a praticar uma repressão tão desregrada quanto o ato delinquente que eles reprimem.
Os membros da comunidade queixam-se, justamente, de recear às vezes mais essa polícia do que os próprios bandidos. Mas acontece que essa maneira de instituir uma polícia é escolhida por comunidades decididas a manter amplas margens de excluídos, talvez provindos do mesmo lugar onde é recrutada a tropa dos policiais. Os cidadãos, portanto, querem proteger-se contra essa massa, que, visto que é excluída, não tem por que respeitar as leis da comunidade. E, para conter os excluídos, o que é melhor do que uma tropa de excluídos?
Além disso, os cidadãos logo descobrem que, se essa polícia é perigosamente descomprometida com as leis, em compensação ela é sensível à corrupção. O laço mercenário inicial é assim consolidado por uma série de contratos privados, que oferecem bicos e salários paralelos a cabos e policiais para que, fora ou dentro do horário de seu trabalho, eles sirvam de segurança particular.
Há um segundo caminho possível. A comunidade escolhe entre seus membros os que parecem mais aptos ao trabalho de defesa da ordem. Os mais corajosos, mais hábeis no uso das armas e mais íntegros tornam-se policiais. São honrados e recompensados de forma a manter concretamente um status social respeitado.
Os cidadãos sabem que algumas profissões devem ser especialmente valorizadas aos olhos de todos. Por exemplo, é importante que os encarregados de educar as crianças sejam vistos como sujeitos que se deram bem na vida. Pois as crianças mal confiariam em pessoas que a sociedade julgasse fracassadas. Por isso a comunidade remunera e honra especialmente seus professores (não é?). A mesma coisa vale para a polícia. Que a profissão de policial apareça como uma escolha de sucesso é um fundamento relevante da autoridade do policial.
Conclusão: no primeiro caso, todos acatam a polícia por medo de sua violência; no segundo, o acatamento confunde-se com o respeito devido a cidadãos que se consagram a uma tarefa necessária e que são parte integrante da comunidade -sua profissão aparecendo como uma das formas de êxito social.
Agora, imaginemos que, num belo dia, ao redigir uma nova Constituição, os cidadãos especifiquem que os que servem aos interesses cruciais da comunidade não podem fazer greve. Razões: o funcionário faria greve, paradoxalmente, contra si mesmo, pois a coisa pública é administrada no interesse dele. E, sobretudo, o compromisso do funcionário-cidadão com o bem geral impede que ele se engaje numa forma de protesto danosa para a vida de todos.
Esses raciocínios valem no caso da polícia apenas se, na hora de alistar a tropa, a comunidade tenha escolhido seus melhores, os que ela honra e recompensa. No caso da comunidade que arregimenta excluídos, os ditos raciocínios não funcionam, pois esses policiais não têm compromisso com o bem de todos por não fazerem parte dos "todos" que importam. Então, estando insatisfeitos, por que não recorreriam à greve?
A greve, nesse caso, revela a natureza da polícia que a comunidade comprou (barato). O protesto apresenta-se como uma insurreição de gladiadores ameaçando os cidadãos, exibindo armas do teto dos quartéis, em provocação parecida com aquela dos fora-da-lei quando se amotinam nas prisões. Ou, então, os grevistas percorrem as ruas da cidade como patrulhas do terror, numa pantomima de arrastões criminosos.
Moral da história: numa democracia, seria melhor que todos fossem cidadãos de direito e de fato, sem exclusões. No caso infeliz de que uma democracia conviva com amplas margens de exclusão, a comunidade, no mínimo, deveria evitar que fossem e permanecessem excluídos logo os que são encarregados de representar e preservar as leis da cidade.
Iria esquecer: qualquer semelhança com fatos da vida real recente na Bahia não é mera coincidência.
quinta-feira, 12 de julho de 2001
A face maléfica dos adultos
A comissão de suspensão das penas do Estado de Massachusetts, EUA, acaba de pronunciar-se a favor da liberação antecipada de Gerald Amirault, 47 anos (os últimos 15 na cadeia). É o epílogo de um vasto fenômeno cultural dos anos 80.
Amirault, sua irmã e sua mãe animavam a escolinha de Fells Acres, em Malden, MA. Num belo dia de 1984, um aluno de cinco anos disse à sua mãe que fora molestado por Gerald Amirault. Depois de uma orgia de interrogatórios, Gerald foi condenado pelo estupro de seis meninas e três meninos, enquanto sua irmã e sua mãe teriam estuprado três meninas e um menino.
Seguiram-se muitos processos parecidos pelo país afora. As crianças contavam abusos saídos de uma versão pornô dos contos de Grimm. Houve o palhaço que levava as crianças para o quarto mágico e mandava comer o almoço na ponta de seu peru. E a bruxa nua que tocava "Jingle Bells" no piano. A escassez de provas materiais competia com a incompetência (ou má-fé) dos procuradores durante os interrogatórios das crianças.
Até os meados dos anos 90, as fantasias sexuais infantis condenaram dezenas de professores, padrastos, madrastas, pais, avós etc.
Na mesma época, afirmou-se a Teoria da Memória Recuperada, segundo a qual muitas aflições psíquicas dos adultos seriam causadas por abusos reais sofridos durante a infância.
Em suma, de 1985 a 1995, nossa cultura -em sua matriz norte-americana- decidiu que as crianças, quando acusavam os adultos de maluquices sádicas, deveriam estar falando a verdade. E, ao mesmo tempo, autorizou-nos a atribuir sistematicamente nossos sofrimentos à suposta crueldade dos que teriam abusado de nós enquanto éramos crianças.
Em 1995, Frances Hill, no livro "A Delusion of Satan" (Um Delírio de Satã), comparou esses processos por abuso de crianças com a caça às bruxas de Salem no século 17 (as acusações provinham de um coro de meninas). Hill lembrava que, desde 1985, nos EUA, 60 pessoas, acusadas de múltiplos abusos, tinham sido condenadas a passar suas vidas na prisão. E 2,5 milhões de americanos maduros ou idosos foram acusados por seus filhos ou netos já adultos que haviam "recuperado" a lembrança de terem sido vítimas de abuso na infância.
Duplo estrago: milhares de famílias destruídas e, por outro lado, a extrema dificuldade, nessa loucura, de reconhecer os abusos verdadeiros, que, naturalmente, continuaram existindo.
Por que tudo isso? Há uma série de hipóteses. Por exemplo, nota-se, na maioria dos casais de classe média, que, durante os anos 70 e 80, ambos os cônjuges passaram a trabalhar. A culpa por deixar as crianças pequenas aos cuidados de outros devia alimentar fantasias sobre os horrores que poderiam acontecer. Ao denunciarem professores e "babysitters", as crianças adotariam as fantasias produzidas pelo sentimento de culpa de seus pais.
Outra hipótese: os anos 80 foram um momento de reação à liberação sexual dos 60. Nesse quadro, era interessante mostrar que a sexualidade chegava às crianças só pela violência de adultos corruptores.
As várias explicações são todas plausíveis, mas não esgotam a significação das acusações lançadas pelas crianças e pelos adultos que "se lembraram" de abusos sofridos na infância.
É óbvio que a grande maioria das acusações não correspondia aos fatos. Mas a massa de denúncias representava um protesto coletivo. Como se, nos anos 80, a infância se revoltasse ao descobrir alguma face maléfica dos adultos.
É frequente que os adultos modernos sejam acusados de desejar o bem de seus rebentos apenas por razões narcisistas, ou seja, por considerá-los como extensões de suas próprias vidas. Tipo: "Seja feliz por mim! Realize meus sonhos!". Esse amor narcisista pode provocar consequências nefastas nas crianças. Mesmo assim, é um tipo de amor.
Mas é raro que se levante a questão da inveja (inconsciente ou não) que os adultos e os pais podem sentir das crianças. Ou então que se fale do ódio produzido nos adultos pelo fato de que os rebentos, por existirem, tomam nosso lugar e tocam o sino de nossa morte.
Do mesmo jeito, estamos sempre dispostos a desvendar as paixões de Édipo e a reconhecer que as crianças podem alimentar fantasias mais ou menos torpes com um adulto desejado ou podem querer que ele morra. Mas evitamos interrogar as ambivalências e os cantos escuros das fantasias dos adultos com as crianças. Jocasta, por exemplo, caiu na jogada de Édipo só por engano?
Ora, nos anos 80, os adultos dedicaram-se como nunca a seu próprio projeto de bem-estar. Propuseram-se a ser eles mesmos felizes em vez de seguir planejando a felicidade futura de suas crianças. Logo estas devem ter percebido que eram vistas como rivais e usurpadoras mais do que como preciosas encarnações das esperanças dos pais. Eram, portanto, objetos de menos amor, mais inveja, mais ódio e mais violência. Com isso as crianças espernearam e, sobretudo, acusaram.
Com razão, pois, de fato, os sentimentos que os adultos lhes reservavam não eram todos confessáveis. A coisa mudou?
Amirault, sua irmã e sua mãe animavam a escolinha de Fells Acres, em Malden, MA. Num belo dia de 1984, um aluno de cinco anos disse à sua mãe que fora molestado por Gerald Amirault. Depois de uma orgia de interrogatórios, Gerald foi condenado pelo estupro de seis meninas e três meninos, enquanto sua irmã e sua mãe teriam estuprado três meninas e um menino.
Seguiram-se muitos processos parecidos pelo país afora. As crianças contavam abusos saídos de uma versão pornô dos contos de Grimm. Houve o palhaço que levava as crianças para o quarto mágico e mandava comer o almoço na ponta de seu peru. E a bruxa nua que tocava "Jingle Bells" no piano. A escassez de provas materiais competia com a incompetência (ou má-fé) dos procuradores durante os interrogatórios das crianças.
Até os meados dos anos 90, as fantasias sexuais infantis condenaram dezenas de professores, padrastos, madrastas, pais, avós etc.
Na mesma época, afirmou-se a Teoria da Memória Recuperada, segundo a qual muitas aflições psíquicas dos adultos seriam causadas por abusos reais sofridos durante a infância.
Em suma, de 1985 a 1995, nossa cultura -em sua matriz norte-americana- decidiu que as crianças, quando acusavam os adultos de maluquices sádicas, deveriam estar falando a verdade. E, ao mesmo tempo, autorizou-nos a atribuir sistematicamente nossos sofrimentos à suposta crueldade dos que teriam abusado de nós enquanto éramos crianças.
Em 1995, Frances Hill, no livro "A Delusion of Satan" (Um Delírio de Satã), comparou esses processos por abuso de crianças com a caça às bruxas de Salem no século 17 (as acusações provinham de um coro de meninas). Hill lembrava que, desde 1985, nos EUA, 60 pessoas, acusadas de múltiplos abusos, tinham sido condenadas a passar suas vidas na prisão. E 2,5 milhões de americanos maduros ou idosos foram acusados por seus filhos ou netos já adultos que haviam "recuperado" a lembrança de terem sido vítimas de abuso na infância.
Duplo estrago: milhares de famílias destruídas e, por outro lado, a extrema dificuldade, nessa loucura, de reconhecer os abusos verdadeiros, que, naturalmente, continuaram existindo.
Por que tudo isso? Há uma série de hipóteses. Por exemplo, nota-se, na maioria dos casais de classe média, que, durante os anos 70 e 80, ambos os cônjuges passaram a trabalhar. A culpa por deixar as crianças pequenas aos cuidados de outros devia alimentar fantasias sobre os horrores que poderiam acontecer. Ao denunciarem professores e "babysitters", as crianças adotariam as fantasias produzidas pelo sentimento de culpa de seus pais.
Outra hipótese: os anos 80 foram um momento de reação à liberação sexual dos 60. Nesse quadro, era interessante mostrar que a sexualidade chegava às crianças só pela violência de adultos corruptores.
As várias explicações são todas plausíveis, mas não esgotam a significação das acusações lançadas pelas crianças e pelos adultos que "se lembraram" de abusos sofridos na infância.
É óbvio que a grande maioria das acusações não correspondia aos fatos. Mas a massa de denúncias representava um protesto coletivo. Como se, nos anos 80, a infância se revoltasse ao descobrir alguma face maléfica dos adultos.
É frequente que os adultos modernos sejam acusados de desejar o bem de seus rebentos apenas por razões narcisistas, ou seja, por considerá-los como extensões de suas próprias vidas. Tipo: "Seja feliz por mim! Realize meus sonhos!". Esse amor narcisista pode provocar consequências nefastas nas crianças. Mesmo assim, é um tipo de amor.
Mas é raro que se levante a questão da inveja (inconsciente ou não) que os adultos e os pais podem sentir das crianças. Ou então que se fale do ódio produzido nos adultos pelo fato de que os rebentos, por existirem, tomam nosso lugar e tocam o sino de nossa morte.
Do mesmo jeito, estamos sempre dispostos a desvendar as paixões de Édipo e a reconhecer que as crianças podem alimentar fantasias mais ou menos torpes com um adulto desejado ou podem querer que ele morra. Mas evitamos interrogar as ambivalências e os cantos escuros das fantasias dos adultos com as crianças. Jocasta, por exemplo, caiu na jogada de Édipo só por engano?
Ora, nos anos 80, os adultos dedicaram-se como nunca a seu próprio projeto de bem-estar. Propuseram-se a ser eles mesmos felizes em vez de seguir planejando a felicidade futura de suas crianças. Logo estas devem ter percebido que eram vistas como rivais e usurpadoras mais do que como preciosas encarnações das esperanças dos pais. Eram, portanto, objetos de menos amor, mais inveja, mais ódio e mais violência. Com isso as crianças espernearam e, sobretudo, acusaram.
Com razão, pois, de fato, os sentimentos que os adultos lhes reservavam não eram todos confessáveis. A coisa mudou?
quinta-feira, 5 de julho de 2001
Gorilas entre nós
Num pequeno hall, seis jovens estão dispostos num círculo. Três estão de branco, e três, de preto, intercalados, ou seja, há um de branco, um de preto etc. Constituem dois times, cada um dos quais dispõe de sua bola própria. Os times movimentam essa bola entre seus integrantes com passes rápidos. Ao mesmo tempo, o círculo inteiro dos seis jovens gira em sentido horário. Os times não lutam entre si, mas, por causa do movimento, do espaço restrito e da simultaneidade dos passes dentro dos dois times, o jogo é bem animado.
De repente, chega um gorila, na verdade, um sujeito disfarçado de gorila. Ele atravessa o círculo dos jogadores e pára no meio. Os jovens continuam jogando como se não percebessem nada. O gorila olha para você, bate furiosamente no peito, como se espera de um gorila, e sai de cena. O bicho ficou no hall durante nove segundos.
Numa experiência recente do Laboratório de Cognição Visual de Harvard (www.wjh.harvard.edu), essa cena foi mostrada em vídeo a pessoas que, antes de assistirem à fita, receberam a tarefa de contar o número de passes efetuados pelo time branco. Foi suficiente para que a metade dos participantes não notasse a passagem do gorila.
No site do laboratório, é possível ver um trecho do vídeo. Quem assistir achará incrível que alguém não note o gorila. Mas nós não somos mais sujeitos "inocentes", pois sabemos do gorila. Por isso ele catalisa nosso olhar.
A experiência (publicada em "Perception", vol. 28) é uma contribuição ao estudo da dita "cegueira por desatenção" diante de objetos visuais complexos e dinâmicos (seis jogadores, todos se movimentando etc). Aprendemos que a capacidade de perceber um objeto inesperado depende de sua similaridade com os objetos sobre os quais está concentrada a atenção: no caso, a similaridade é mínima, pois o gorila é escuro e os circunstantes devem contar os passes do time branco. Outra variável é a complexidade da tarefa imposta aos presentes: contar os passes pede bastante concentração.
Seja como for, a denominação "cegueira por desatenção" é equivocada. De fato, a cegueira é produzida por um excesso de atenção. Os sujeitos não vêem o gorila porque têm algo para fazer que é, para eles, mais importante do que observar o que acontece: devem e querem contar os passes.
Os psicoterapeutas e os psicanalistas simpatizarão com a experiência. Freud recomendava que os pacientes fossem escutados com uma atenção "flutuante", ou seja, aberta, não-focalizada -justamente para não perder a entrada dos gorilas. Ele também aconselhava que os psicanalistas não se entregassem ao furor de curar. Qualquer terapia se propõe a melhorar a vida dos pacientes, mas o anseio de sarar pode funcionar como uma atenção excessiva consagrada ao número dos passes do time branco.
Bem além do campo da psicoterapia, a experiência do laboratório de Harvard sugere uma revisão do triunfalismo das teorias, digamos assim, "ativas" do conhecimento, pelas quais a crítica e a vontade de mudar as coisas seriam os caminhos privilegiados para entender o mundo -mote: conheçam transformando.
Ora, segundo a experiência do gorila, uma percepção plena exige um olhar não-orientado e não-atarefado, ou seja, ela precisa de uma certa aceitação do mundo. Em outras palavras, é importante querer construir pontes, mas, se olharmos para o vale sempre e só com essa intenção, perderemos de vista o rio, as montanhas e até as pessoas que queremos ajudar a atravessar. Quando nos deparamos com uma análise de situações sociais, políticas ou mesmo familiares decididamente orientada por intenções reformadoras, sugiro que paremos um instante para perguntar: "Alguém viu um gorila por aqui?".
Durante as férias escolares, canso de ouvir pais receosos de que os filhos adolescentes se encontrem sem nada para fazer, desconcentrados. Gostariam de que seus rebentos fossem sempre atarefados, sem tempo para vagabundear. Entendo por quê: uma das figuras ideais do sucesso é o sujeito ocupadíssimo e focadíssimo. Não por acaso o sofrimento psíquico é hoje frequentemente resumido segundo duas vertentes principais: a depressão e a dificuldade de concentrar-se, o dito Attention Deficit Disorder (ADD). Essas categorias são exatamente o inverso da figura que mencionei acima: o deprimido não se ocupa o suficiente, e o sujeito com déficit de atenção não focaliza. Nos termos da experiência de Harvard, o deprimido acharia que não vale a pena contar esses passes, e o sujeito com déficit de atenção não se concentraria o suficiente para contar. Com isso eles certamente enxergariam o gorila.
O sujeito ideal, no fim do vídeo, mostrará a conta certa, orgulhoso e convencido de responder às expectativas que foram depositadas nele.
Infelizmente, a metade desses sujeitos prestativos, por mostrarem serviço, não verá o gorila.
Entretanto talvez ninguém esteja a fim mesmo de reparar nos eventuais gorilas que circulam no meio da gente
De repente, chega um gorila, na verdade, um sujeito disfarçado de gorila. Ele atravessa o círculo dos jogadores e pára no meio. Os jovens continuam jogando como se não percebessem nada. O gorila olha para você, bate furiosamente no peito, como se espera de um gorila, e sai de cena. O bicho ficou no hall durante nove segundos.
Numa experiência recente do Laboratório de Cognição Visual de Harvard (www.wjh.harvard.edu), essa cena foi mostrada em vídeo a pessoas que, antes de assistirem à fita, receberam a tarefa de contar o número de passes efetuados pelo time branco. Foi suficiente para que a metade dos participantes não notasse a passagem do gorila.
No site do laboratório, é possível ver um trecho do vídeo. Quem assistir achará incrível que alguém não note o gorila. Mas nós não somos mais sujeitos "inocentes", pois sabemos do gorila. Por isso ele catalisa nosso olhar.
A experiência (publicada em "Perception", vol. 28) é uma contribuição ao estudo da dita "cegueira por desatenção" diante de objetos visuais complexos e dinâmicos (seis jogadores, todos se movimentando etc). Aprendemos que a capacidade de perceber um objeto inesperado depende de sua similaridade com os objetos sobre os quais está concentrada a atenção: no caso, a similaridade é mínima, pois o gorila é escuro e os circunstantes devem contar os passes do time branco. Outra variável é a complexidade da tarefa imposta aos presentes: contar os passes pede bastante concentração.
Seja como for, a denominação "cegueira por desatenção" é equivocada. De fato, a cegueira é produzida por um excesso de atenção. Os sujeitos não vêem o gorila porque têm algo para fazer que é, para eles, mais importante do que observar o que acontece: devem e querem contar os passes.
Os psicoterapeutas e os psicanalistas simpatizarão com a experiência. Freud recomendava que os pacientes fossem escutados com uma atenção "flutuante", ou seja, aberta, não-focalizada -justamente para não perder a entrada dos gorilas. Ele também aconselhava que os psicanalistas não se entregassem ao furor de curar. Qualquer terapia se propõe a melhorar a vida dos pacientes, mas o anseio de sarar pode funcionar como uma atenção excessiva consagrada ao número dos passes do time branco.
Bem além do campo da psicoterapia, a experiência do laboratório de Harvard sugere uma revisão do triunfalismo das teorias, digamos assim, "ativas" do conhecimento, pelas quais a crítica e a vontade de mudar as coisas seriam os caminhos privilegiados para entender o mundo -mote: conheçam transformando.
Ora, segundo a experiência do gorila, uma percepção plena exige um olhar não-orientado e não-atarefado, ou seja, ela precisa de uma certa aceitação do mundo. Em outras palavras, é importante querer construir pontes, mas, se olharmos para o vale sempre e só com essa intenção, perderemos de vista o rio, as montanhas e até as pessoas que queremos ajudar a atravessar. Quando nos deparamos com uma análise de situações sociais, políticas ou mesmo familiares decididamente orientada por intenções reformadoras, sugiro que paremos um instante para perguntar: "Alguém viu um gorila por aqui?".
Durante as férias escolares, canso de ouvir pais receosos de que os filhos adolescentes se encontrem sem nada para fazer, desconcentrados. Gostariam de que seus rebentos fossem sempre atarefados, sem tempo para vagabundear. Entendo por quê: uma das figuras ideais do sucesso é o sujeito ocupadíssimo e focadíssimo. Não por acaso o sofrimento psíquico é hoje frequentemente resumido segundo duas vertentes principais: a depressão e a dificuldade de concentrar-se, o dito Attention Deficit Disorder (ADD). Essas categorias são exatamente o inverso da figura que mencionei acima: o deprimido não se ocupa o suficiente, e o sujeito com déficit de atenção não focaliza. Nos termos da experiência de Harvard, o deprimido acharia que não vale a pena contar esses passes, e o sujeito com déficit de atenção não se concentraria o suficiente para contar. Com isso eles certamente enxergariam o gorila.
O sujeito ideal, no fim do vídeo, mostrará a conta certa, orgulhoso e convencido de responder às expectativas que foram depositadas nele.
Infelizmente, a metade desses sujeitos prestativos, por mostrarem serviço, não verá o gorila.
Entretanto talvez ninguém esteja a fim mesmo de reparar nos eventuais gorilas que circulam no meio da gente
domingo, 1 de julho de 2001
Fratura Americana
Contardo Calligaris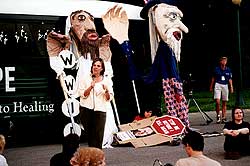 | Manifestação contra a pena de morte no dia da execução de McVeigh |
por Contardo Calligaris
Decadência econômica das pequenas cidades dos EUA causada pela globalização e a imigração faz ressurgir a defesa dos ideais fundadores da nação americana, que para muitos se encarnam no discurso de Timothy McVeigh, executado no último dia 11 |
Ao lado do entrada da Penitenciária Federal de Terre Haute, Indiana, dois dias antes da execução de Timothy McVeigh (que ocorreu em 11/ 6), piscava um painel luminoso: "A favor: encaminhem-se para Voorhees Park; contra, para Fairbanks Park". A polícia queria evitar brigas entre manifestantes. Mas o painel também orquestrava as questões levantadas pela execução, prevendo que só haveria opiniões a propósito da pena de morte: a favor ou contra, tanto faz. A cobertura de imprensa confirmou a previsão: foi excessiva e denegatória. Falava-se de execução e pena de morte, no entanto ninguém estava a fim de perguntar por que McVeigh matou e morreria. Para outra execução, uma semana depois, estiveram em Terre Haute 75 jornalistas credenciados. Para McVeigh, houve mais de mil. Certo, há a magnitude do crime: o atentado contra o edifício federal de Oklahoma City, em 1995, matou 168 pessoas, entre as quais 19 crianças. Mas suspeito que a comoção nacional em torno da execução de McVeigh tivesse também outro fundamento. McVeigh não era um criminoso comum. Morreu convencido de ter agido "pelo bem maior de todos" e de ter adotado "táticas militares legítimas" em sua luta contra o governo federal -considerando a morte das crianças e das vítimas que não eram funcionários federais como danos inevitáveis numa guerra.
Divórcio exasperante
O livro de Lou Michel e Dan Herbeck, baseado em entrevistas com McVeigh ("American Terrorist", Regan Books, EUA), confirma a imagem do soldado exemplar que virou um "regicida" moderno por convicção.
Na fase final do processo de McVeigh, quando se tratava de decidir a pena, a defesa apresentou ao júri uma série de atenuantes. Por exemplo, McVeigh acreditava que agentes federais fossem os responsáveis pelas mortes acontecidas em Ruby Ridge e Waco (leia textos na pág. 11) e que esses agentes ficaram impunes. Também pensava que os agentes do governo usavam táticas militares para transformar os EUA num Estado policial.
Os jurados levaram em conta ambos os atenuantes. Logo foi apresentada a idéia de que McVeigh acreditava profundamente "nos ideais sobre os quais são fundados os EUA". Admitir essa tese significaria conceber que a revolta assassina de McVeigh pudesse surgir da defesa enlouquecida dos princípios originários da nação. Os jurados tiveram que recusar essa idéia para condenar McVeigh à morte. Mas alguns americanos pensam que existe um divórcio exasperante entre o país e seus ideais fundadores. Com isso, abominam a bomba de Oklahoma, mas, de alguma forma, "entendem" McVeigh.
No sábado anterior à execução, bem na frente da penitenciária, instalou-se um manifestante que não cabia em nenhum dos parques previstos.
Era Chuck Scines, 56, inspetor de ferrovias de Dayton, Ohio. Seu cartaz dizia de um lado: "O mal vinga quando as pessoas boas não fazem nada. Deus trabalha por meio de nós... Mantenham-se firmes na liberdade". Do outro, explicitando: "Poucos comparecem quando um apelo às armas se justifica. Tim McVeigh, patriota americano!". A seguir, reproduzo e comento trechos do que ele me disse: "Tomei minha decisão há tempos, quando tive quatro filhos e me dei conta de que estamos perdendo a liberdade nos EUA e de que há uma agenda socialista para instaurar um governo mundial único" (do seu jeito, Chuck está falando da globalização e do aumento vertiginoso das regulamentações profissionais, fiscais, sociais que regem o cotidiano americano). "Portanto lutei contra o controle das armas (todas as leis para limitar posse e uso de armas), defendendo o artigo 2º da "Carta de Direitos'" (parte da Constituição americana -o artigo 2º garante o direito de carregar armas). "Timothy McVeigh era frustrado pelo que aconteceu em Waco, Texas, onde o governo fritou mais de 80 pessoas, ou em Ruby Ridge, Idaho, onde os agentes pulverizaram a metade da cabeça de Vicky Weaver e mataram seu filho de 14 anos. Não tinham direito nenhum de fazer isso, eram indivíduos como você e eu. Ninguém está enfiando uma agulha no braço de Janet Reno (ministra da Justiça na época de Waco e Ruby Ridge) por isso. Ora, ela é responsável, ela tomou a decisão no caso de Waco e declarou que tinha sido uma operação de primeira classe... Só que, por acaso, havia lá 16 crianças, que morreram. Agora Timothy McVeigh está lá assumindo a responsabilidade pelo que ele fez. Eu sou a favor da pena de morte. Entendo as frustrações de McVeigh, mas não concordo com seu alvo.... A América está indo pelo ralo do esgoto."
Uma nova fratura
Nessa altura, um repórter do News Channel 15, que se aproximara escutando e gravando, não se conteve e perguntou: "Você é contra a pena de morte?". Resposta imediata: "A pena de morte não é a questão. A América é a questão".
O repórter não devia ser surdo. Mas entre ele e Scines corre uma fratura que divide a América -mais dolorosa do que a fratura entre velha e nova economias e talvez mais irremediável do que a própria fratura racial.
No mundo do qual o repórter faz parte, é inaceitável agir por idéias. Só se age por interesse ou por problemas psicológicos. Um psiquiatra que examinou McVeigh disse que o terrorista encontrara na bomba de Oklahoma seu antidepressivo. A monstruosa revolta de McVeigh era reduzida à patologia kitsch do momento -manifestação de um cinismo para o qual a motivação ideal é um disparate.
O repórter do News Channel 15 não ouve as idéias. Scines fala que a América vai pelo ralo do esgoto -suspeito que o repórter pense nas dificuldades do índice Nasdaq -Bolsa eletrônica que reúne as ações das companhias de alta tecnologia. Scines fala de liberdade, de abusos etc. -o repórter pergunta sobre a pena de morte para cortá-lo. Não quer saber de um delírio que pode atrapalhar o funcionamento divertido da prosperidade.
O repórter, coberto de acessórios de vestimenta e tecnológicos de última moda, é um membro representativo da corte da mídia que cobria a execução.
A modernização torna insignificantes aqueles americanos sem os quais a América não tem muito como se definir -é só um colosso poderoso |
Eles são todos urbanos, elegantes, supertecnológicos, se locomovendo pelo gramado ao redor da prisão a bordo de carrinhos de golfe, pendurados em celulares e agendas eletrônicas, chamando alternadamente seus agentes financeiros em Wall Street ou suas redações. Eram quase obscenos, no contexto. Scines, em uniforme de americano médio, está de cara fechada. Seu veredicto sobre a América é acompanhado de lágrimas não fingidas.
A ética da sentinela
Scines não está sozinho. De onde vêm os recrutas? Há o êxodo rural das grandes planícies. No centro dos Estados Unidos, nos anos 90, mais de 60% dos condados perderam habitantes. Multiplicaram-se as cidades-fantasma e as fazendas abandonadas. Numa espécie de vingança da história, os índios voltam a habitar as terras das quais foram expulsos no passado, enquanto os colonos que desbravaram o Oeste vão à falência. E há, sobretudo em zonas industriais menores, pequenos artesãos e comerciantes que são as vítimas da globalização. Perderam seus empregos com a saída de fábricas para o México, a Indonésia etc. e com a chegada de imigrantes trabalhando abaixo do custo sindical. Chuck é inspetor da ferrovia.
Em Terre Haute encontrei outros manifestantes libertários: um perito químico, um marceneiro, um pedreiro -todos habitantes de pequenas cidades. A prosperidade das últimas décadas é hiperurbana -das grandes cidades ou da cidade mundial que é a rede.
O campo (as fazendas familiares) e os pequenos cidadãos das pequenas cidades são os derrotados habituais de qualquer modernização. Mas, no caso americano, esses derrotados têm um estatuto especial: podem afirmar com razão que, com eles, são derrotados os valores essenciais da nação. Essa classe de pequenos fazendeiros e de trabalhadores da América das pequenas cidades é o modelo mítico da vida americana.
O próprio repórter do News Channel 15, quando casar e tiver filhos, fugirá da cidade para os subúrbios, convencido de que esses são o melhor lugar onde educar suas crianças. E os subúrbios devem seu charme à idéia de que imitariam a vida da América das pequenas cidades (das quais são, de fato, a caricatura medonha). Do mesmo jeito, quando ele levar os filhos à Disneylândia, seu passeio por Main Street será um tributo (fúnebre) à América das pequenas cidades.
A modernização torna insignificantes, logo, aqueles americanos sem os quais a América não tem muito como se definir -é só um colosso poderoso.
O sentimento desses americanos, como o de Chuck, é facilmente libertário. Defensores ciumentos das liberdades fundamentais que foram inventadas pela revolução americana, eles se opõem a quase todas as regulamentações governamentais. Nenhuma concessão por razões de interesse, conforto ou saúde pública: são contra a interdição de fumar, o limite de velocidade e a obrigação de usar cinto de segurança. As regras são ruins por serem regras.
Esse integrismo da liberdade comanda uma ética da sentinela, tensa, alerta -e paranóica.
A distância da ética dominante -a do bem-estar- não poderia ser maior. Ela alimenta o desprezo pelas ondas de imigração recente (legais ou ilegais) que vieram confessadamente ganhar e gastar melhor -e não guardar, de armas na mão, o reduto da liberdade. Contradição insolúvel: a liberdade que os libertários almejam é possível no isolamento do colono das grandes planícies ou então na comunidade harmoniosa da mítica pequena cidade. Aí reinariam convenções espontâneas, compartilhadas por todos e, portanto, nunca impostas. Mas a mítica pequena cidade (se é que já existiu) está morrendo também por causa da própria liberdade que ela promove. Seus filhos saem à procura de mais liberdade ainda. Emigram para a metrópole para desprenderem-se dos laços tradicionais da pequena comunidade. Ora, na cidade grande, para que se possa conviver, a convenção comunitária perdida deve ser substituída por regulamentações. O sonho de liberdade vira pesadelo, pois a cidade grande exige uma formalização e uma proliferação de regras bem mais opressivas do que os códigos que regravam a vida da cidade pequena. McVeigh era de uma pequena cidade: Lockport, no oeste do Estado de Nova York. Após a Guerra do Golfo, ele circulou, nômade, pelas feiras de armas, vivendo no carro. Boa receita para um desastre: um libertário que perde o vínculo com a comunidade.
Sentimento popular
Atrás das fileiras em que milita Scines, há um sentimento popular difuso. Voltando de Terre Haute em direção a Indianápolis, parei em Brazil, em Indiana. Nina, 54, é caixa da farmácia CVS na esquina da rua 40 com a 59. Perguntou se eu estava na região por causa da execução de McVeigh e quis saber o que eu pensava. Disse que achara um dia triste para todos. Ela: "Você é de que parte dos EUA?". Respondi: "De Bôôst'n", carregando o sotaque da Nova Inglaterra. Nina falou da pena que sentia, como muitos outros, pelo pai de Timothy McVeigh -numa espécie de identificação. Lidava como podia com a contradição entre o horror de Oklahoma e a familiaridade de McVeigh: "Talvez alguém tenha lhe dado uma droga para ele fazer isso... Quero dizer: ele é americano". Tomei o partido de concordar, sempre. No fim, Nina chamou as colegas: queria mostrar alguém da Costa Leste que pensava como ela (ou como elas). Era uma festa imaginar que o país talvez não estivesse irremediavelmente dividido. O drama é que McVeigh, monstruoso por seu ato, defendia valores que talvez sejam banais no coração da América profunda.
O controle das armas
O controle das armas é o último baluarte dos libertários, o lugar da resistência final. Pois é aqui que eles descobrem e reivindicam a herança do espírito de 1776. Afinal, a Revolução Americana foi isto: pequenos fazendeiros, artesãos e burgueses, cada um com sua espingarda, se revoltando contra o soberano, porque não gostavam de impostos e regulamentações. Criaram uma nação sobre o princípio (por eles posto em prática) de que um povo tem direito a se rebelar. As armas não são apenas o símbolo, mas a possibilidade concreta da insurreição. Distribuídas, elas são um instrumento da razão ilustrada: afirmam que o poder está em última instância com o povo, que o povo pode revogar o poder que ele delegou e se defender, se surgir um tirano. Elas são, desde a Revolução Americana, o símbolo histórico do fim de uma relação incondicional com a autoridade. Devolver as armas -ou mesmo limitar sua posse- significa, para os libertários, devolver concretamente a essência da liberdade política. Portanto, a vontade do governo federal de controlar as armas produz, como no cartaz de Chuck, um apelo às armas. O enfrentamento já começou e é horrivelmente sangrento. Sobre esse tema, o mal-entendido entre as duas Américas é penoso e total. Em Stilesville, Indiana, como um sanduíche no Mill Creek Inn. Atmosfera reservada, ninguém queria puxar conversa sobre McVeigh. Mas um dos clientes saiu atrás de mim. Apoiados em sua pickup batida, com placas de Indiana, conversamos. Disse: "Sabe qual é a razão por que querem controlar as armas, de maneira que só a polícia e os federais de todos os tipos tenham acesso a elas? Eles têm uma razão: é que, na América deles, eles têm drogas, merda e porcaria. Por isso eles querem controlar as armas. Mas o que nós temos a ver com a América deles?". Pedi seu nome. Desconversou.
Postscriptum
Estamos acostumados a pensar que o processo de globalização é a mesma coisa que a difusão pelo mundo afora do modo de vida americano. Ora, a América, nesse processo, se perde tanto quanto nós nos perdemos.
Do ponto de vista do homem global, o americano das pequenas cidades é tão exótico (e desprezível) quanto uma baiana ou um gondoleiro. O desprezo e as caricaturas são aqui formas de repressão. Entende-se por quê. No caso, o integrismo da liberdade que sobrevive e protesta na América profunda é a contestação de um axioma crucial da globalização. Pois ele repete e grita que a liberdade inventada pela Revolução Americana tem pouco a ver com a liberdade dos mercados.
quinta-feira, 28 de junho de 2001
O ideal de amor romântico está em que filme?
Durante muito tempo, pensava que fôssemos todos vítimas de um ideal inalcançável: a visão de um casal gloriosamente feliz no amor e no sexo. Os casais concretos fracassariam por almejarem tamanha perfeição. Cada dificuldade deixaria os parceiros inconsoláveis ao descobrirem a distância entre seu dia-a-dia e o ideal. Logo eles procurariam outras chances.
Imaginava, portanto, que a vida dos casais se tornaria mais praticável se fosse possível baixar a bola de nossas aspirações. A dificuldade, em suma, parecia ser o próprio ideal romântico de felicidade amorosa e sexual.
Precisava criticar esse ideal, desmontá-lo -Jurandir Freire Costa fez isso admiravelmente em "Sem Fraude nem Favor" (Rocco, 221 págs., R$ 22,50)- e ajudar os casais a conviver com suas imperfeições. Sugestão: "Renunciem a ser o príncipe e a Cinderela, destinados a viverem felizes para sempre, e encarem as trapalhadas que vierem".
À primeira vista, esse projeto deveria funcionar. É o que pensava, sem dúvida, a maioria das pessoas que se reuniram, no fim de semana passado, em Orlando, Flórida, para a convenção anual Smart Marriages, Happy Families (Casamentos Inteligentes, Famílias Felizes), uma grande reunião de terapeutas, padres, pastores, pesquisadores e outros preocupados em defender o casamento periclitante -tudo num clima "tradição, família e propriedade".
Parece que o destaque foram os cursos de preparação para o casamento, dos quais são esperadas maravilhas. Nos EUA, em certas igrejas, um curso em mediação de conflitos já é requisito obrigatório para os noivos. E alguns Estados subvencionarão programas educativos para futuros cônjuges, com o propósito de diminuir o número de divórcios.
Afinal, se o problema for amenizar os efeitos de um ideal impiedosamente exigente, é bem possível que uma mistura de crítica cultural e terapia preventiva funcione, ou seja, consiga tornar mais razoáveis as exigências que impomos a nós mesmos e a nossos parceiros amorosos.
Infelizmente, acredito que esse esforço pedagógico venha a ter efeitos mínimos. Pois me pareceu que, contrariamente ao que achava no passado, o convívio amoroso e sexual não é nosso ideal cultural dominante. O casal moderno não sofre de um excesso de idealização da felicidade casamenteira. Ao contrário, ele luta (batalha bem mais ímpar) contra uma falta de idealização: o casal não tem onde encontrar inspiração, pois seus percalços não fazem sonhar ninguém.
Como cheguei a essa nova conclusão?
Pense no repertório moderno das condutas apetitosas e dos heróis que gostaríamos de ser: o cinema. Aparentemente Hollywood não pára de idealizar a paixão amorosa, de "Casablanca" a "Titanic", não é?
Ora, em "Casablanca", você se identifica com quem? Com Bogart, que renuncia a viver seu grande amor e -macho para caramba- entra na resistência clandestina? Ou com Ingrid Bergman, que viverá um casamento chocho, sempre saudosa dos momentos mágicos passados com Bogey em Paris e Casablanca? Seja como for, são idealizadas a renúncia e a saudade, não a felicidade de um casal.
Em "Titanic", você prefere ser DiCaprio salvando sua bela ao preço da vida? Ou Kate Winslet, guardiã da lembrança de um amor que nunca teve o tempo de vingar? Seja como for, são idealizados o sacrifício e o luto, não o convívio de um casal apaixonado.
Repita esse tipo de análise com qualquer filme. Por exemplo, na linha "Love Story"-"Moulin Rouge" (que estréia no Brasil em 24 de agosto), a paixão vem com a garantia de uma morte anunciada. O ideal não é o convívio amoroso, mas o charme da viuvez inconsolável ou então a idéia de sobreviver como lembrança indelével na memória de quem fica.
Às vezes a história acaba bem, com o casal encaminhando-se para amanhãs radiosos. Como em Cinderela, viverão felizes para sempre. Mas você reparou que isso acontece sempre fora da tela? Quando um casal consegue se juntar, a história acaba.
Em suma, o que é idealizado nunca é o convívio, mas a perda, a saudade, o luto ou, no máximo, a procura. Para saber como continua a história depois de um final feliz, precisa mudar de canal, passar do filme ao seriado de televisão, do estilo épico e dramático ao burlesco.
O príncipe encontrou a princesa: acabou o tempo dos heróis com os quais gostávamos de nos identificar, aquela coisa de matar dragões, sofrer privações e feridas pensando na bela (ausente, por favor) e vice-versa. O que segue é vaudeville, o tempo dos palhaços.
O ideal não é o convívio com o outro amado, mas sua falta (atual, antecipada ou saudosa). A figura de nossos devaneios não é um casal, mas o sujeito solitário dignificado pela perda, pelo anseio ou pela renúncia -e, por isso, sedutor.
Não estranha que não sonhemos com a presença do outro. Afinal, a insatisfação e a falta estão sempre inscritas em nossos corações, e o contentamento com o que temos é destinado a parecer ridículo. Essas são as condições subjetivas mínimas para o bom funcionamento (econômico e social) do mundo moderno.
Imaginava, portanto, que a vida dos casais se tornaria mais praticável se fosse possível baixar a bola de nossas aspirações. A dificuldade, em suma, parecia ser o próprio ideal romântico de felicidade amorosa e sexual.
Precisava criticar esse ideal, desmontá-lo -Jurandir Freire Costa fez isso admiravelmente em "Sem Fraude nem Favor" (Rocco, 221 págs., R$ 22,50)- e ajudar os casais a conviver com suas imperfeições. Sugestão: "Renunciem a ser o príncipe e a Cinderela, destinados a viverem felizes para sempre, e encarem as trapalhadas que vierem".
À primeira vista, esse projeto deveria funcionar. É o que pensava, sem dúvida, a maioria das pessoas que se reuniram, no fim de semana passado, em Orlando, Flórida, para a convenção anual Smart Marriages, Happy Families (Casamentos Inteligentes, Famílias Felizes), uma grande reunião de terapeutas, padres, pastores, pesquisadores e outros preocupados em defender o casamento periclitante -tudo num clima "tradição, família e propriedade".
Parece que o destaque foram os cursos de preparação para o casamento, dos quais são esperadas maravilhas. Nos EUA, em certas igrejas, um curso em mediação de conflitos já é requisito obrigatório para os noivos. E alguns Estados subvencionarão programas educativos para futuros cônjuges, com o propósito de diminuir o número de divórcios.
Afinal, se o problema for amenizar os efeitos de um ideal impiedosamente exigente, é bem possível que uma mistura de crítica cultural e terapia preventiva funcione, ou seja, consiga tornar mais razoáveis as exigências que impomos a nós mesmos e a nossos parceiros amorosos.
Infelizmente, acredito que esse esforço pedagógico venha a ter efeitos mínimos. Pois me pareceu que, contrariamente ao que achava no passado, o convívio amoroso e sexual não é nosso ideal cultural dominante. O casal moderno não sofre de um excesso de idealização da felicidade casamenteira. Ao contrário, ele luta (batalha bem mais ímpar) contra uma falta de idealização: o casal não tem onde encontrar inspiração, pois seus percalços não fazem sonhar ninguém.
Como cheguei a essa nova conclusão?
Pense no repertório moderno das condutas apetitosas e dos heróis que gostaríamos de ser: o cinema. Aparentemente Hollywood não pára de idealizar a paixão amorosa, de "Casablanca" a "Titanic", não é?
Ora, em "Casablanca", você se identifica com quem? Com Bogart, que renuncia a viver seu grande amor e -macho para caramba- entra na resistência clandestina? Ou com Ingrid Bergman, que viverá um casamento chocho, sempre saudosa dos momentos mágicos passados com Bogey em Paris e Casablanca? Seja como for, são idealizadas a renúncia e a saudade, não a felicidade de um casal.
Em "Titanic", você prefere ser DiCaprio salvando sua bela ao preço da vida? Ou Kate Winslet, guardiã da lembrança de um amor que nunca teve o tempo de vingar? Seja como for, são idealizados o sacrifício e o luto, não o convívio de um casal apaixonado.
Repita esse tipo de análise com qualquer filme. Por exemplo, na linha "Love Story"-"Moulin Rouge" (que estréia no Brasil em 24 de agosto), a paixão vem com a garantia de uma morte anunciada. O ideal não é o convívio amoroso, mas o charme da viuvez inconsolável ou então a idéia de sobreviver como lembrança indelével na memória de quem fica.
Às vezes a história acaba bem, com o casal encaminhando-se para amanhãs radiosos. Como em Cinderela, viverão felizes para sempre. Mas você reparou que isso acontece sempre fora da tela? Quando um casal consegue se juntar, a história acaba.
Em suma, o que é idealizado nunca é o convívio, mas a perda, a saudade, o luto ou, no máximo, a procura. Para saber como continua a história depois de um final feliz, precisa mudar de canal, passar do filme ao seriado de televisão, do estilo épico e dramático ao burlesco.
O príncipe encontrou a princesa: acabou o tempo dos heróis com os quais gostávamos de nos identificar, aquela coisa de matar dragões, sofrer privações e feridas pensando na bela (ausente, por favor) e vice-versa. O que segue é vaudeville, o tempo dos palhaços.
O ideal não é o convívio com o outro amado, mas sua falta (atual, antecipada ou saudosa). A figura de nossos devaneios não é um casal, mas o sujeito solitário dignificado pela perda, pelo anseio ou pela renúncia -e, por isso, sedutor.
Não estranha que não sonhemos com a presença do outro. Afinal, a insatisfação e a falta estão sempre inscritas em nossos corações, e o contentamento com o que temos é destinado a parecer ridículo. Essas são as condições subjetivas mínimas para o bom funcionamento (econômico e social) do mundo moderno.
quinta-feira, 21 de junho de 2001
Separados e maduros
Cada vez que escrevo sobre relações conjugais, recebo alguns e-mails perguntando-me: "Afinal, qual é a sua? Será que você quer que as pessoas fiquem casadas, sacrificando sua autonomia e sua singularidade? Deveríamos renunciar a nós mesmos para continuarmos juntos?". Certo que não. Conheço a tristeza das relações falidas que continuam por inércia. Não quero (nem poderia) promover a volta a uma primazia da instituição do casamento sobre e contra os amores e os humores dos indivíduos.
Mas meus correspondentes têm razão: quase sempre me parece que vale a pena fazer o esforço de colar os cacos de uma relação em crise. Ou, no mínimo, que vale a pena tentar.
Essa atitude é uma medida preventiva, que me protege dos poderes de um lugar-comum: muitas ideologias terapêuticas contemporâneas idealizam as separações (não só de casais) como se fossem sempre provas de força e de saúde mental. Separar-se é bom, juntar-se é ruim. Separar-se é forte, juntar-se é fraco.
As relações ditas saudáveis seriam aquelas em que cada um poderia, sem problema, licenciar o outro -sempre mantido a uma distância prudente. Nessa ótica, respeitar o amigo, o amante, o cônjuge ou o parente significa não pretender que ele mude por causa da relação. Do mesmo jeito, respeitar a nós mesmos é não aceitar que sejamos transformados pela relação.
Paradoxo: a relação de sucesso acaba sendo definida não como aquela que descobriu um jeito de dois ou mais ficarem juntos, mas como aquela que pode quebrar tranquilamente, porque cada um ficou na sua.
Nenhuma surpresa. Nossa cultura valoriza o indivíduo. Portanto medimos a maturidade de um sujeito pela sua independência dos outros. Ou seja, nossa concepção da maturidade é botânica: "Amadureceu? Então, tem de cair do ramo". A isso acrescenta-se que, contrariamente à regra botânica, quem se separa vinga e cresce, enquanto quem fica preso murcha ou apodrece.
Tornar-se adulto significa saber renunciar ao seio e à presença da mãe, logo sair de casa e dispensar a mesada dos pais. Enfim, desejar sem concessões ou compromissos com o desejo dos outros. Aliás, o contrário da separação para nós não é a relação, mas imediatamente a fusão, em que toda individualidade será esmagada. O moto é: separe-se ou perca-se.
Nunca é bom contrariar um leitmotiv cultural. Dispomos de infinitos exemplos dos efeitos catastróficos de fusões não resolvidas entre mães e crianças, entre pais e filhos ou então entre amantes e entre cônjuges.
É claro que é melhor que a vida de um casal não seja uma sauna úmida onde todos se perdem e quase sufocam. Também é bom para as crianças que saiam do útero materno, que se afastem da mãe e, eventualmente, que deixem a casa dos pais e façam sua vida. Mas talvez não seja necessário que todo esse processo seja quase sempre descrito e apresentado como uma separação, e não como a constituição ou a invenção de laços diferentes e viáveis. Parece que, em nossa cultura, amadurecendo, todos devem aprender a separar-se, mas ninguém deve aprender a relacionar-se.
A separação como ideal subjetivo inspira nossos comportamentos em todas as relações que, por serem cruciais, parecem ameaçar nossa autonomia. Por exemplo, muitos pais queixam-se de que, ao lançar qualquer discussão, eles encontram uma recusa brutal dos filhos adolescentes. Quando o papo esquenta um pouco, os jovens saem de perto. "Fazer o quê? Amarrá-los?" Numa cultura em que o afastamento é o caminho ideal que dá acesso à maturidade, não há por que estranhar que os jovens gostem de bater as portas.
Quando uma relação está doente ou em crise, é frequente que a culpa seja atribuída à escassa autonomia dos sujeitos, e não à sua dificuldade em relacionar-se. Os problemas seriam efeitos da infantilidade dos envolvidos, os quais não seriam suficientemente independentes, pediriam demais, contariam demais com o outro etc.
Nessa linha, os problemas de um casal seriam resolvidos quando fossem resolvidos os problemas de seus integrantes. Mesma coisa para uma família ou para qualquer outra relação em crise. Há uma verdade nisso: imagine, por exemplo, que alguém seja constantemente animado pela fantasia inconsciente de produzir gritos e lágrimas na hora de sua saída. É inevitável que suas relações sejam repetidamente tempestuosas e fracassadas. E, se ele resolver seu problema, as relações nas quais ele se envolverá serão beneficiadas.
Mas as dificuldades de relacionamento não são apenas a suma das dificuldades dos parceiros que se relacionam. Nem são sempre uma consequência da falta de autonomia deles. Elas podem ser, banalmente, o efeito de uma insuficiente disponibilidade ou da incapacidade de travar amores, amizades e convívios.
Ora, minha simpatia pelos esforços para manter e conciliar relações é uma maneira de apostar que a maturidade não só seja a capacidade de tolerar as separações mas também consista em inventar uma arte de relacionar-se.
Não terminei. Continua numa próxima coluna
Mas meus correspondentes têm razão: quase sempre me parece que vale a pena fazer o esforço de colar os cacos de uma relação em crise. Ou, no mínimo, que vale a pena tentar.
Essa atitude é uma medida preventiva, que me protege dos poderes de um lugar-comum: muitas ideologias terapêuticas contemporâneas idealizam as separações (não só de casais) como se fossem sempre provas de força e de saúde mental. Separar-se é bom, juntar-se é ruim. Separar-se é forte, juntar-se é fraco.
As relações ditas saudáveis seriam aquelas em que cada um poderia, sem problema, licenciar o outro -sempre mantido a uma distância prudente. Nessa ótica, respeitar o amigo, o amante, o cônjuge ou o parente significa não pretender que ele mude por causa da relação. Do mesmo jeito, respeitar a nós mesmos é não aceitar que sejamos transformados pela relação.
Paradoxo: a relação de sucesso acaba sendo definida não como aquela que descobriu um jeito de dois ou mais ficarem juntos, mas como aquela que pode quebrar tranquilamente, porque cada um ficou na sua.
Nenhuma surpresa. Nossa cultura valoriza o indivíduo. Portanto medimos a maturidade de um sujeito pela sua independência dos outros. Ou seja, nossa concepção da maturidade é botânica: "Amadureceu? Então, tem de cair do ramo". A isso acrescenta-se que, contrariamente à regra botânica, quem se separa vinga e cresce, enquanto quem fica preso murcha ou apodrece.
Tornar-se adulto significa saber renunciar ao seio e à presença da mãe, logo sair de casa e dispensar a mesada dos pais. Enfim, desejar sem concessões ou compromissos com o desejo dos outros. Aliás, o contrário da separação para nós não é a relação, mas imediatamente a fusão, em que toda individualidade será esmagada. O moto é: separe-se ou perca-se.
Nunca é bom contrariar um leitmotiv cultural. Dispomos de infinitos exemplos dos efeitos catastróficos de fusões não resolvidas entre mães e crianças, entre pais e filhos ou então entre amantes e entre cônjuges.
É claro que é melhor que a vida de um casal não seja uma sauna úmida onde todos se perdem e quase sufocam. Também é bom para as crianças que saiam do útero materno, que se afastem da mãe e, eventualmente, que deixem a casa dos pais e façam sua vida. Mas talvez não seja necessário que todo esse processo seja quase sempre descrito e apresentado como uma separação, e não como a constituição ou a invenção de laços diferentes e viáveis. Parece que, em nossa cultura, amadurecendo, todos devem aprender a separar-se, mas ninguém deve aprender a relacionar-se.
A separação como ideal subjetivo inspira nossos comportamentos em todas as relações que, por serem cruciais, parecem ameaçar nossa autonomia. Por exemplo, muitos pais queixam-se de que, ao lançar qualquer discussão, eles encontram uma recusa brutal dos filhos adolescentes. Quando o papo esquenta um pouco, os jovens saem de perto. "Fazer o quê? Amarrá-los?" Numa cultura em que o afastamento é o caminho ideal que dá acesso à maturidade, não há por que estranhar que os jovens gostem de bater as portas.
Quando uma relação está doente ou em crise, é frequente que a culpa seja atribuída à escassa autonomia dos sujeitos, e não à sua dificuldade em relacionar-se. Os problemas seriam efeitos da infantilidade dos envolvidos, os quais não seriam suficientemente independentes, pediriam demais, contariam demais com o outro etc.
Nessa linha, os problemas de um casal seriam resolvidos quando fossem resolvidos os problemas de seus integrantes. Mesma coisa para uma família ou para qualquer outra relação em crise. Há uma verdade nisso: imagine, por exemplo, que alguém seja constantemente animado pela fantasia inconsciente de produzir gritos e lágrimas na hora de sua saída. É inevitável que suas relações sejam repetidamente tempestuosas e fracassadas. E, se ele resolver seu problema, as relações nas quais ele se envolverá serão beneficiadas.
Mas as dificuldades de relacionamento não são apenas a suma das dificuldades dos parceiros que se relacionam. Nem são sempre uma consequência da falta de autonomia deles. Elas podem ser, banalmente, o efeito de uma insuficiente disponibilidade ou da incapacidade de travar amores, amizades e convívios.
Ora, minha simpatia pelos esforços para manter e conciliar relações é uma maneira de apostar que a maturidade não só seja a capacidade de tolerar as separações mas também consista em inventar uma arte de relacionar-se.
Não terminei. Continua numa próxima coluna
quinta-feira, 14 de junho de 2001
Desigualdades intoleráveis
"Desigualdade e Felicidade: os Europeus e os Americanos São Diferentes?" é uma recente pesquisa do National Bureau of Economic Research, realizada por A. Alesina, R. di Tella e R. MacCulloch. O texto está acessível em www. nber.org.
A pesquisa mostra que os cidadãos dos EUA e os europeus sentem e pensam de maneira diferente em matéria de desigualdade social. Na Europa, a desigualdade é um fator de insatisfação, por isso ela é combatida por várias políticas de redistribuição de renda. Nos EUA, a indigência é considerada um mal social, mas a desigualdade não -as políticas assistenciais são, portanto, mais limitadas.
Na Europa, quanto mais um sujeito é pobre, tanto mais ele está insatisfeito com a desigualdade social. Parece óbvio: os desfavorecidos devem se sentir melhor numa sociedade mais homogênea, não é? Surpresa: nos EUA, o bom humor dos pobres é insensível à desigualdade. Os únicos americanos que parecem ficar tristes com as diferenças sociais são os ricos de esquerda.
Como explicar essa diferença? Os autores sugerem uma causa: a mobilidade social. Os Estados Unidos apresentam uma mobilidade social maior do que a da Europa. Por isso os pobres americanos vêem na desigualdade a promessa de seus privilégios futuros. Moderar a desigualdade seria limitar seus sonhos.
Ao contrário, na Europa, onde há menos mobilidade social, a desigualdade é percebida pelos pobres como uma situação dificilmente alterável, um destino infeliz.
A pesquisa tem relevância política. A esquerda americana protesta porque o país prospera, mas a desigualdade aumenta descaradamente. Segundo a pesquisa, isso não tem importância nenhuma. Robert Samuelson, colunista da "Newsweek", ao comentar a pesquisa, afirmou que, como qualquer americano, ele não se sentiria melhor se Bill Gates ficasse pobre.
E nós com isso? No Brasil, a desigualdade social é maior do que nos EUA (da Europa nem se fala). E ela é constantemente invocada como uma razão da infelicidade nacional. Não paramos de medir quantos salários mínimos e quantas cestas básicas cabem no custo de qualquer luxo de classe alta. A falta de segurança de nossas cidades nos parece ser um efeito "merecido" da desproporção entre ricos e pobres. A distância entre os mais e os menos favorecidos é "a" praga nacional.
Em suma, sofremos de uma desigualdade pior do que a americana e estamos insatisfeitos com esse descompasso, como os europeus. Somos americanos na desigualdade e europeus na insatisfação com a desigualdade. Parece fácil entender por quê: a desigualdade só é tolerável quando existe uma grande mobilidade social, como nos EUA. Numa sociedade com menos trânsito entre as classes, como a da Europa, a desigualdade, por menor que seja, é fonte de insatisfação. Ora, a representação que temos do Brasil é esta: uma desigualdade à americana com a escassa mobilidade dos europeus -portanto uma desigualdade intolerável.
Mas há um problema: essa representação do Brasil não corresponde plenamente à realidade. No ano passado, José Pastore e Nelson do Valle Silva publicaram "Mobilidade Social no Brasil". Mostraram que, de fato, desde os anos 40, a mobilidade social no Brasil é considerável. Por exemplo, hoje "apenas 20% dos integrantes da classe alta são filhos da própria classe alta". Num quadro comparativo, o Brasil é um dos países com mais mobilidade -acima dos EUA.
Pastore e Valle Silva atenuam esses dados observando que, no Brasil moderno, muitos crescem, mas crescem pouco. Mesmo assim, é curioso que a sociedade brasileira nos pareça imóvel. Os EUA encarnam para todos o mito da "terra das oportunidades". O Brasil, com uma mobilidade maior ou, no mínimo, equivalente, vê-se, ao contrário, como o paraíso das elites. Só encontro uma explicação para a permanência desse estereótipo: nossa percepção da mobilidade social depende da experiência cotidiana, ou seja, de como são vividas concretamente as diferenças sociais. Explico com exemplos.
Nos EUA, a mobilidade é confirmada a cada instante pelo estilo do comportamento social. Um americano pode ter infinitamente menos do que ricos e poderosos, mas ele acredita que subir seja sempre possível, pois é tratado pelos mais favorecidos como alguém que amanhã poderia entrar na turma de cima. "Cozinho seus ovos e sirvo seu café. Mas seu respeito indica que você não exclui a possibilidade de qualquer dia estarmos juntos do mesmo lado do balcão."
No Brasil, a mobilidade, embora exista de fato, é frequentemente desmentida pela prática dos estilos mais arcaicos de poder. "A sociedade pode me oferecer recursos e chances de subir na vida, mas como acreditarei nessa possibilidade, se, por eu ter menos do que você, serei tratado com a familiaridade condescendente que se destina normalmente aos servos?"
No Brasil, a mobilidade social, por mais que seja efetiva, não faz parte da experiência social cotidiana. Por isso ela não aparece no cartão-postal do país. Por isso também as desigualdades permanecem intoleráveis.
A pesquisa mostra que os cidadãos dos EUA e os europeus sentem e pensam de maneira diferente em matéria de desigualdade social. Na Europa, a desigualdade é um fator de insatisfação, por isso ela é combatida por várias políticas de redistribuição de renda. Nos EUA, a indigência é considerada um mal social, mas a desigualdade não -as políticas assistenciais são, portanto, mais limitadas.
Na Europa, quanto mais um sujeito é pobre, tanto mais ele está insatisfeito com a desigualdade social. Parece óbvio: os desfavorecidos devem se sentir melhor numa sociedade mais homogênea, não é? Surpresa: nos EUA, o bom humor dos pobres é insensível à desigualdade. Os únicos americanos que parecem ficar tristes com as diferenças sociais são os ricos de esquerda.
Como explicar essa diferença? Os autores sugerem uma causa: a mobilidade social. Os Estados Unidos apresentam uma mobilidade social maior do que a da Europa. Por isso os pobres americanos vêem na desigualdade a promessa de seus privilégios futuros. Moderar a desigualdade seria limitar seus sonhos.
Ao contrário, na Europa, onde há menos mobilidade social, a desigualdade é percebida pelos pobres como uma situação dificilmente alterável, um destino infeliz.
A pesquisa tem relevância política. A esquerda americana protesta porque o país prospera, mas a desigualdade aumenta descaradamente. Segundo a pesquisa, isso não tem importância nenhuma. Robert Samuelson, colunista da "Newsweek", ao comentar a pesquisa, afirmou que, como qualquer americano, ele não se sentiria melhor se Bill Gates ficasse pobre.
E nós com isso? No Brasil, a desigualdade social é maior do que nos EUA (da Europa nem se fala). E ela é constantemente invocada como uma razão da infelicidade nacional. Não paramos de medir quantos salários mínimos e quantas cestas básicas cabem no custo de qualquer luxo de classe alta. A falta de segurança de nossas cidades nos parece ser um efeito "merecido" da desproporção entre ricos e pobres. A distância entre os mais e os menos favorecidos é "a" praga nacional.
Em suma, sofremos de uma desigualdade pior do que a americana e estamos insatisfeitos com esse descompasso, como os europeus. Somos americanos na desigualdade e europeus na insatisfação com a desigualdade. Parece fácil entender por quê: a desigualdade só é tolerável quando existe uma grande mobilidade social, como nos EUA. Numa sociedade com menos trânsito entre as classes, como a da Europa, a desigualdade, por menor que seja, é fonte de insatisfação. Ora, a representação que temos do Brasil é esta: uma desigualdade à americana com a escassa mobilidade dos europeus -portanto uma desigualdade intolerável.
Mas há um problema: essa representação do Brasil não corresponde plenamente à realidade. No ano passado, José Pastore e Nelson do Valle Silva publicaram "Mobilidade Social no Brasil". Mostraram que, de fato, desde os anos 40, a mobilidade social no Brasil é considerável. Por exemplo, hoje "apenas 20% dos integrantes da classe alta são filhos da própria classe alta". Num quadro comparativo, o Brasil é um dos países com mais mobilidade -acima dos EUA.
Pastore e Valle Silva atenuam esses dados observando que, no Brasil moderno, muitos crescem, mas crescem pouco. Mesmo assim, é curioso que a sociedade brasileira nos pareça imóvel. Os EUA encarnam para todos o mito da "terra das oportunidades". O Brasil, com uma mobilidade maior ou, no mínimo, equivalente, vê-se, ao contrário, como o paraíso das elites. Só encontro uma explicação para a permanência desse estereótipo: nossa percepção da mobilidade social depende da experiência cotidiana, ou seja, de como são vividas concretamente as diferenças sociais. Explico com exemplos.
Nos EUA, a mobilidade é confirmada a cada instante pelo estilo do comportamento social. Um americano pode ter infinitamente menos do que ricos e poderosos, mas ele acredita que subir seja sempre possível, pois é tratado pelos mais favorecidos como alguém que amanhã poderia entrar na turma de cima. "Cozinho seus ovos e sirvo seu café. Mas seu respeito indica que você não exclui a possibilidade de qualquer dia estarmos juntos do mesmo lado do balcão."
No Brasil, a mobilidade, embora exista de fato, é frequentemente desmentida pela prática dos estilos mais arcaicos de poder. "A sociedade pode me oferecer recursos e chances de subir na vida, mas como acreditarei nessa possibilidade, se, por eu ter menos do que você, serei tratado com a familiaridade condescendente que se destina normalmente aos servos?"
No Brasil, a mobilidade social, por mais que seja efetiva, não faz parte da experiência social cotidiana. Por isso ela não aparece no cartão-postal do país. Por isso também as desigualdades permanecem intoleráveis.
quinta-feira, 7 de junho de 2001
A paixão pelo novo e o casamento
No meu quarto, o espelho para enxergar-se de pé está ao lado da cama. Resultado: quando acordo, sento e vejo-me. Estranho um pouco, mas acabo reconhecendo a figura.
Poderia achar prazer em reencontrar-me. Mas, em geral, a experiência é de tédio ou de vaga decepção: não fui vítima de nenhuma metamorfose. Voltei do sono e sou o mesmo. Não virei barata, nem príncipe encantado. Que droga.
Essa sensação não me surpreende: há poucos traços tão relevantes na subjetividade moderna quanto a paixão pela mudança -e, por consequência, a ojeriza da mesmice. O gosto pela novidade é crucial em nossas vidas. Ele preside, por exemplo, à insaciável variedade dos objetos oferecidos a nossos apetites. Com isso, funciona como incentivo essencial para o sistema de produção e consumo no qual vivemos.
A paixão pelo novo e a ojeriza da mesmice não comandam apenas nossa relação com os objetos. Elas dominam também nossa experiência íntima. Queremos novidades não só nas ruas e nas vitrinas, mas em nossas vidas. Chegamos a medir a qualidade de uma existência pela variedade das experiências que ela proporciona. Lamentamos uma vida definida pelo tranquilo preenchimento de uma função. Preferimos a aventura.
Gostaríamos de ser Indiana Jones, mas à condição de passar direto de um filme da série para o seguinte, sem os intermezzos da rotina que -supõe-se- deve constituir a vida "normal" (estudo e ensino) do professor Jones.
Achamos mil culpados pela mesmice que nos assola. Mas logo a lista dos acusados chega a parceiros e parceiras -como se fossem bolas amarradas no pé, correntes que nos travam. O cônjuge torna-se a encarnação dos motivos pelos quais desistimos do novo e da aventura. Ele é responsável por nosso tédio, culpado de toda estagnação. Ele carrega, aos nossos olhos, os estigmas da mesmice: imaginamos dever-lhe tudo o que parece nos prender -um domicílio, a responsabilidade de sermos pais, mais uma família que se acrescenta ao peso da nossa família de origem etc.
De fato, o cônjuge é acusado injustamente: geralmente ele é apenas o porta-voz do medo que acompanha e modera nossa paixão pelo novo. Somos filhos de uma cultura que, ao mesmo tempo, promove o pequeno núcleo familiar fundado no amor e idealiza a liberdade de quem não pára de se reinventar sozinho. Queremos aventura, mas receamos esse nosso desejo e procuramos portos seguros. Culpar o cônjuge é uma maneira de evitar a contradição.
Respeitando esse dilema, a literatura de ajuda, descrição e análise do casamento segue duas tendências. Há os aventureiros, que encorajam homens e mulheres a -expressão consagrada- "realizarem seu potencial" perseguindo novos horizontes. E há os casamenteiros, partidários de compromissos e negociações que permitiriam atravessar a vida de mão dada.
Na última década, os casamenteiros parecem prevalecer. Como medida preliminar, todos eles pedem que não esperemos eternos transportes de felicidade amorosa e sexual. Ou seja, sugerem que não contemos encontrar no casamento as mesmas fortes emoções que procuramos em nossas aventuras (sonhadas ou verdadeiras). Infelizmente, não há como colocar muita fé nos efeitos desses conselhos bem-intencionados: fracassam como convites para uma festa chocha. Mas eis que acabo de ler "Surrendering to Marriage" (Entregar-se ao Casamento), de Iris Krasnow, jornalista. É um livro breve, divertido, repleto de depoimentos e de confidências corajosas sobre o casamento da autora. Krasnow é exemplar de uma interessante tendência casamenteira, segundo a qual lidar com a imperfeição do casamento poderia ser, paradoxalmente, uma aventura extraordinária. Engraçado: o esforço para conviver com a mesmice, levado a sério, nos reservaria uma novidade a cada esquina.
De fato, o livro de Krasnow descobre (ou inventa, tanto faz) uma épica possível do casamento laborioso. Indiana Jones e Lara Croft (seu homólogo feminino) que procurem glória e tesouros não pelo mundo afora, mas nos pequenos esforços para manter unido um casal. Afinal, para muitos, mesmo após décadas de convivência, o cônjuge e a própria relação seguem sendo continentes inexplorados.
Se os esforços para manter ou reinventar o casamento nos parecessem tão emocionantes quanto a procura e o risco da novidade, o casamento encontraria um fôlego extraordinário, pois conciliaria a paixão pelo novo com a nostalgia de um porto seguro.
Em suma, o casal tornou-se descartável como a esferográfica e o isqueiro. "Não funciona mais? Jogue fora." A metade dos casamentos americanos quebra e acaba em divórcio. Mas nos últimos anos há certamente muitas pessoas querendo colar os cacos. Para alistar mais alguns, Krasnow pretende que esse empreendimento pode constituir um desafio complexo e envolvente como um bom sonho de aventura. Por que não? Há pletora de candidatos (prova disso: desde 1970, nos EUA, o número de profissionais licenciados como terapeutas de família e de casal multiplicou-se por 50).
Poderia achar prazer em reencontrar-me. Mas, em geral, a experiência é de tédio ou de vaga decepção: não fui vítima de nenhuma metamorfose. Voltei do sono e sou o mesmo. Não virei barata, nem príncipe encantado. Que droga.
Essa sensação não me surpreende: há poucos traços tão relevantes na subjetividade moderna quanto a paixão pela mudança -e, por consequência, a ojeriza da mesmice. O gosto pela novidade é crucial em nossas vidas. Ele preside, por exemplo, à insaciável variedade dos objetos oferecidos a nossos apetites. Com isso, funciona como incentivo essencial para o sistema de produção e consumo no qual vivemos.
A paixão pelo novo e a ojeriza da mesmice não comandam apenas nossa relação com os objetos. Elas dominam também nossa experiência íntima. Queremos novidades não só nas ruas e nas vitrinas, mas em nossas vidas. Chegamos a medir a qualidade de uma existência pela variedade das experiências que ela proporciona. Lamentamos uma vida definida pelo tranquilo preenchimento de uma função. Preferimos a aventura.
Gostaríamos de ser Indiana Jones, mas à condição de passar direto de um filme da série para o seguinte, sem os intermezzos da rotina que -supõe-se- deve constituir a vida "normal" (estudo e ensino) do professor Jones.
Achamos mil culpados pela mesmice que nos assola. Mas logo a lista dos acusados chega a parceiros e parceiras -como se fossem bolas amarradas no pé, correntes que nos travam. O cônjuge torna-se a encarnação dos motivos pelos quais desistimos do novo e da aventura. Ele é responsável por nosso tédio, culpado de toda estagnação. Ele carrega, aos nossos olhos, os estigmas da mesmice: imaginamos dever-lhe tudo o que parece nos prender -um domicílio, a responsabilidade de sermos pais, mais uma família que se acrescenta ao peso da nossa família de origem etc.
De fato, o cônjuge é acusado injustamente: geralmente ele é apenas o porta-voz do medo que acompanha e modera nossa paixão pelo novo. Somos filhos de uma cultura que, ao mesmo tempo, promove o pequeno núcleo familiar fundado no amor e idealiza a liberdade de quem não pára de se reinventar sozinho. Queremos aventura, mas receamos esse nosso desejo e procuramos portos seguros. Culpar o cônjuge é uma maneira de evitar a contradição.
Respeitando esse dilema, a literatura de ajuda, descrição e análise do casamento segue duas tendências. Há os aventureiros, que encorajam homens e mulheres a -expressão consagrada- "realizarem seu potencial" perseguindo novos horizontes. E há os casamenteiros, partidários de compromissos e negociações que permitiriam atravessar a vida de mão dada.
Na última década, os casamenteiros parecem prevalecer. Como medida preliminar, todos eles pedem que não esperemos eternos transportes de felicidade amorosa e sexual. Ou seja, sugerem que não contemos encontrar no casamento as mesmas fortes emoções que procuramos em nossas aventuras (sonhadas ou verdadeiras). Infelizmente, não há como colocar muita fé nos efeitos desses conselhos bem-intencionados: fracassam como convites para uma festa chocha. Mas eis que acabo de ler "Surrendering to Marriage" (Entregar-se ao Casamento), de Iris Krasnow, jornalista. É um livro breve, divertido, repleto de depoimentos e de confidências corajosas sobre o casamento da autora. Krasnow é exemplar de uma interessante tendência casamenteira, segundo a qual lidar com a imperfeição do casamento poderia ser, paradoxalmente, uma aventura extraordinária. Engraçado: o esforço para conviver com a mesmice, levado a sério, nos reservaria uma novidade a cada esquina.
De fato, o livro de Krasnow descobre (ou inventa, tanto faz) uma épica possível do casamento laborioso. Indiana Jones e Lara Croft (seu homólogo feminino) que procurem glória e tesouros não pelo mundo afora, mas nos pequenos esforços para manter unido um casal. Afinal, para muitos, mesmo após décadas de convivência, o cônjuge e a própria relação seguem sendo continentes inexplorados.
Se os esforços para manter ou reinventar o casamento nos parecessem tão emocionantes quanto a procura e o risco da novidade, o casamento encontraria um fôlego extraordinário, pois conciliaria a paixão pelo novo com a nostalgia de um porto seguro.
Em suma, o casal tornou-se descartável como a esferográfica e o isqueiro. "Não funciona mais? Jogue fora." A metade dos casamentos americanos quebra e acaba em divórcio. Mas nos últimos anos há certamente muitas pessoas querendo colar os cacos. Para alistar mais alguns, Krasnow pretende que esse empreendimento pode constituir um desafio complexo e envolvente como um bom sonho de aventura. Por que não? Há pletora de candidatos (prova disso: desde 1970, nos EUA, o número de profissionais licenciados como terapeutas de família e de casal multiplicou-se por 50).
quinta-feira, 31 de maio de 2001
"Pearl Harbor" pode ser uma meditação sobre a decadência
"Pearl Harbor" chega às salas brasileiras amanhã. A estréia americana, no fim de semana passado, não foi um triunfo -apenas um sucesso. Não estranhei, pois o filme é um pouco amargo para os espectadores dos EUA.
Assisti duas vezes a ele: queria retomar o pulso da platéia que me pareceu, certo, comovida com os amores, as amizades e os heroísmos, mas, sobretudo e paradoxalmente, triste e pensativa.
Não sei se "Pearl Harbor" será um sucesso no Brasil. Talvez os efeitos especiais e o dramalhão toquem um refrão universal, do tipo "Titanic". De qualquer forma, o filme é interessante para quem queira entender o momento atual da consciência americana.
"Pearl Harbor" é o último fogo de artifício de uma década que idealiza intensamente a geração de americanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial.
São chamados "the greatest generation", a maior das gerações: a eles são consagrados livros, programas de televisão, documentários, filmes e monumentos. Segundo a cultura popular, esses pais ideais foram capazes de paixões, amores e amizades sublimes. Mesmo vivendo tão intensamente, sabiam reconhecer seu dever e identificar a hora do sacrifício. Eram sempre voluntários, sem choramingar. Cresceram nos anos 20 e 30, uma época em que (sempre segundo a fantasia ideal) o problema não era como ostentar luxos, mas como colocar na mesa o pão de cada dia. Tinham instrução média, sem "frescuras" intelectuais, mas com orgulhosa independência de espírito. Tinham ambições saudáveis e limitadas. Eram idealmente de origem rural -por isso sabiam caçar, pescar, arrumar seus carros, construir casas e, enfim, souberam lutar.
Não sei se os homens da "grande geração" foram mesmo desse jeito. Mas é certo que nem sempre a cultura popular imaginou que fossem assim. Ao contrário. Os cinéfilos lembram-se de "From Here to Eternity" ("A um Passo da Eternidade"), Oscar de 53. Sem efeitos especiais, é "Pearl Harbor" imaginado 50 anos atrás por um olhar impiedoso. Esse olhar durou até os anos 80. Em 79, num remake do filme de 53, os protagonistas são ainda mais sinistros. Os homens destinados à eternidade da glória são um soldado que se apaixona por uma prostituta e um sargento que consegue transar com a mulher do capitão (que é uma perua). Aparentemente, dos anos 50 aos 80, os americanos não precisaram idealizar tanto seus grandes guerreiros.
Hoje o monumento erigido à "grande geração" parece ser o doloroso serviço fúnebre da grande figura mítica americana: uma mistura do homem da milícia que defendeu sua independência contra os ingleses com o homem da fronteira em luta contra os índios, os elementos e a modernização. É "O Patriota" com "Jeremiah Johnson". Esse mito do cidadão soldado acompanhou os combatentes americanos da Segunda Guerra Mundial: os voluntários de 41 e 42 assistiram a "Sergeant York" (1941), que foi filmado para eles. Como Gary Cooper, eram (ou se imaginavam) livres-pensadores rurais, atiradores temíveis, herdeiros de Davy Crockett e Daniel Boone.
Ora, aconteceu que, de 50 a 90, os EUA prosperaram demais. A crítica ou mesmo a irrisão dos ideais e das vidas "simples" da grande geração serviu para que os "baby-boomers" (os que nasceram na explosão populacional posterior à Segunda Guerra Mundial) se autorizassem a perseguir conforto e riqueza, evitando o peso de tributos excessivos ao dever e à comunidade. De repente, hoje, aqueles antigos ideais fazem falta. Os heróis de "Pearl Harbor", como o sargento York, pertencem a uma espécie de americano que está em via de extinção. Descobre-se hoje que talvez eles sejam indispensáveis para dar sentido à nação.
Na sala de cinema, sexta-feira, à minha esquerda, uma moça chora. À direita, um homem chegou pronto para uma orgia de pipoca, chocolate e Coca-Cola, mas deixou tudo no chão, intato. Na saída, adolescentes conversam sobre a possibilidade de entrar para a Marinha e ganhar assim uma bolsa para a universidade. Um deles aponta o dedo para um amigo: "Você não tem colhão para isso". Ninguém no grupo acha graça. É que a questão parece pairar no ar para todos: como Roosevelt diz no filme, o mundo pensava que os americanos fossem uma nação de fracotes e playboys, eles (a grande geração) mostraram o contrário -e nós, agora, o que somos?
Em 66/67, passei um bom tempo em Houston, Texas. Vivia na casa de Bob, que era então meu sogro -numa periferia onde os restos rurais lutavam contra a invasão da caricatura suburbana. Com Bob, conheci a América da grande geração.
Era um universo machista, às vezes (mas nem sempre) racista, com um perfume de lubrificante de armas, de pólvora e de isca viva para pescar, com conversas sobre caça e munições, com óleo de motor e de freios no chão de garagens que pareciam oficinas mecânicas.
Hoje, nas bancas de jornais americanas, a seção de revistas de armas, caça e pesca -que ainda era enorme nos anos 60- é invadida pelas revistas de "fitness", de computação e de investimento.
Nesse contexto, para os americanos, lembrar-se de Pearl Harbor pode ser uma meditação sobre a decadência
Assisti duas vezes a ele: queria retomar o pulso da platéia que me pareceu, certo, comovida com os amores, as amizades e os heroísmos, mas, sobretudo e paradoxalmente, triste e pensativa.
Não sei se "Pearl Harbor" será um sucesso no Brasil. Talvez os efeitos especiais e o dramalhão toquem um refrão universal, do tipo "Titanic". De qualquer forma, o filme é interessante para quem queira entender o momento atual da consciência americana.
"Pearl Harbor" é o último fogo de artifício de uma década que idealiza intensamente a geração de americanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial.
São chamados "the greatest generation", a maior das gerações: a eles são consagrados livros, programas de televisão, documentários, filmes e monumentos. Segundo a cultura popular, esses pais ideais foram capazes de paixões, amores e amizades sublimes. Mesmo vivendo tão intensamente, sabiam reconhecer seu dever e identificar a hora do sacrifício. Eram sempre voluntários, sem choramingar. Cresceram nos anos 20 e 30, uma época em que (sempre segundo a fantasia ideal) o problema não era como ostentar luxos, mas como colocar na mesa o pão de cada dia. Tinham instrução média, sem "frescuras" intelectuais, mas com orgulhosa independência de espírito. Tinham ambições saudáveis e limitadas. Eram idealmente de origem rural -por isso sabiam caçar, pescar, arrumar seus carros, construir casas e, enfim, souberam lutar.
Não sei se os homens da "grande geração" foram mesmo desse jeito. Mas é certo que nem sempre a cultura popular imaginou que fossem assim. Ao contrário. Os cinéfilos lembram-se de "From Here to Eternity" ("A um Passo da Eternidade"), Oscar de 53. Sem efeitos especiais, é "Pearl Harbor" imaginado 50 anos atrás por um olhar impiedoso. Esse olhar durou até os anos 80. Em 79, num remake do filme de 53, os protagonistas são ainda mais sinistros. Os homens destinados à eternidade da glória são um soldado que se apaixona por uma prostituta e um sargento que consegue transar com a mulher do capitão (que é uma perua). Aparentemente, dos anos 50 aos 80, os americanos não precisaram idealizar tanto seus grandes guerreiros.
Hoje o monumento erigido à "grande geração" parece ser o doloroso serviço fúnebre da grande figura mítica americana: uma mistura do homem da milícia que defendeu sua independência contra os ingleses com o homem da fronteira em luta contra os índios, os elementos e a modernização. É "O Patriota" com "Jeremiah Johnson". Esse mito do cidadão soldado acompanhou os combatentes americanos da Segunda Guerra Mundial: os voluntários de 41 e 42 assistiram a "Sergeant York" (1941), que foi filmado para eles. Como Gary Cooper, eram (ou se imaginavam) livres-pensadores rurais, atiradores temíveis, herdeiros de Davy Crockett e Daniel Boone.
Ora, aconteceu que, de 50 a 90, os EUA prosperaram demais. A crítica ou mesmo a irrisão dos ideais e das vidas "simples" da grande geração serviu para que os "baby-boomers" (os que nasceram na explosão populacional posterior à Segunda Guerra Mundial) se autorizassem a perseguir conforto e riqueza, evitando o peso de tributos excessivos ao dever e à comunidade. De repente, hoje, aqueles antigos ideais fazem falta. Os heróis de "Pearl Harbor", como o sargento York, pertencem a uma espécie de americano que está em via de extinção. Descobre-se hoje que talvez eles sejam indispensáveis para dar sentido à nação.
Na sala de cinema, sexta-feira, à minha esquerda, uma moça chora. À direita, um homem chegou pronto para uma orgia de pipoca, chocolate e Coca-Cola, mas deixou tudo no chão, intato. Na saída, adolescentes conversam sobre a possibilidade de entrar para a Marinha e ganhar assim uma bolsa para a universidade. Um deles aponta o dedo para um amigo: "Você não tem colhão para isso". Ninguém no grupo acha graça. É que a questão parece pairar no ar para todos: como Roosevelt diz no filme, o mundo pensava que os americanos fossem uma nação de fracotes e playboys, eles (a grande geração) mostraram o contrário -e nós, agora, o que somos?
Em 66/67, passei um bom tempo em Houston, Texas. Vivia na casa de Bob, que era então meu sogro -numa periferia onde os restos rurais lutavam contra a invasão da caricatura suburbana. Com Bob, conheci a América da grande geração.
Era um universo machista, às vezes (mas nem sempre) racista, com um perfume de lubrificante de armas, de pólvora e de isca viva para pescar, com conversas sobre caça e munições, com óleo de motor e de freios no chão de garagens que pareciam oficinas mecânicas.
Hoje, nas bancas de jornais americanas, a seção de revistas de armas, caça e pesca -que ainda era enorme nos anos 60- é invadida pelas revistas de "fitness", de computação e de investimento.
Nesse contexto, para os americanos, lembrar-se de Pearl Harbor pode ser uma meditação sobre a decadência
quinta-feira, 24 de maio de 2001
A vida é o que interessa, o resto não tem pressa
Durante uma recepção em Nova York, na quinta-feira passada, conversava com alguns executivos da área financeira. Falávamos dos apagões no Brasil e nos EUA quando mais um convidado se agregou ao grupo, anunciando que seu dia fora glorioso. O recém-chegado era advogado e passara a tarde trabalhando na aquisição do grupo financeiro Banamex (o segundo banco mexicano em ordem de grandeza) pelo Citigroup: uma compra de US$ 12,5 bilhões. Ele acrescentou, com orgulho, que muito cedo só sobrarão no mundo quatro ou, no máximo, cinco bancos globais.
Desrespeitei as convenções do bom convívio social e interrompi o relato entusiasmado do jovem advogado para declarar que acho essas fusões péssimas. A idéia de que sobrem só poucos enormes bancos globais me apavora e me indigna.
Expliquei: eu não voto em bancos, não escolho políticas financeiras nem dirigentes administrativos. Meu controle (bem limitado) sobre o mundo passa pelas eleições e pelo pequeno alcance de atividades políticas locais (expresso opiniões, frequento associações da sociedade civil etc.). Ora -acrescentei-, quando as forças que movem as finanças mundiais são colossos mais poderosos do que os governos nacionais, o exercício democrático fica comprometido. Que diferença faria meu voto num mundo onde quatro bancos decidem como, quando e para onde vai o capital? Com minha cédula na mão ou tomando a palavra numa associação de pais e mestres, vou ser feito de palhaço enquanto, em algum escritório de Zurique ou de Nova York, homens em quem nenhum povo votou decidem se e como nossa comunidade receberá crédito, investimentos etc.
Calei-me, enfim, arrependendo-me um pouco de minhas palavras. Pensei: é apenas um jovem advogado que se sente importante. Vai ver que, atrás do entusiasmo infantil, ele esconde um coração generoso. De fato, meu interlocutor não comprou a briga. Ao contrário, como se quisesse se justificar, ele disse: "Você entende, é que há um bom dinheiro para nós" (ou seja, para seu escritório de advocacia). Nenhum cinismo nisso. Ele tentava mesmo ganhar minha simpatia. Mas como?
Contava com minha cumplicidade, apostava que compartilhássemos a convicção (dominante) de que, no fundo, o bem-estar justifica qualquer empreendimento. Por esse caminho, quem sabe eu também mudasse de idéia sobre fusões e aquisições: quatro bancos globais, justamente por serem poucos, podem se entender melhor e garantir estabilidade a nosso mundo. Portanto todos teriam uma vida, se não boa, melhor. Isso não é mais importante que qualquer fala "abstrata" sobre democracia, participação etc.?
O sorriso conciliatório do jovem advogado supunha, com razão, o triunfo de um ideário que, desde o fim do século 18, substituiu as aspirações ideais do Antigo Regime ou do mundo clássico pelos valores burgueses da saúde, do bem-estar, do conforto. Pergunte ao redor de si: qual é o valor supremo? Na esmagadora maioria dos casos, a resposta hodierna será: a vida. Quem ousaria opor-se? A modernidade funda seus valores de bem-estar e de conforto numa evidência apresentada como biológica.
O que o homem quer? Viver, "naturalmente". E, portanto, viver bem, não é? É necessário um sério esforço para se lembrar de que essa opção "pela vida" não é nada natural. Ela serve para impor a vida boa e o conforto como valores supremos, referências e justificações morais. Para um estóico, um cristão dos primeiros séculos e mesmo qualquer sujeito até o século 18, na hierarquia dos valores, a vida viria depois da dignidade, da verdade, da fé, da honra etc. Aliás, a vida passou a encabeçar a lista dos valores logo que surgiram ideais populares de participação política e de justiça social. Por que será?
No café Landolt, em Genebra, perto da faculdade de letras, numa noite de 1969, encontrei um colega estudante. Chamava-se Dettmeyer, era holandês e decididamente impopular por ser o único da turma que se declarava de extrema-direita. Cuidado: Dettmeyer não era autoritário ou nazi-fascista, mas anarquista, niilista e propagandista do "Único", de Max Stirner. Eu, ao contrário, tinha a reputação banal de ser um esquerdista. Dettmeyer sentou-se perto de mim e disse-me solenemente: "Temos em comum o essencial: um sentimento trágico da existência". Desprezei aquela observação e encorajei Dettmeyer a levar seu bigode nietzschiano para outra mesa.
Diante do advogado nova-iorquino, a frase de Dettmeyer, esquecida há 30 anos, voltou e fez sentido. Na verdade, senti nostalgia de Dettmeyer. Por não estar obnubilado pelo aparente sucesso da festa de 68, ele devia perceber melhor do que eu a invasão iminente que nos espreitava, ouvir o rolo compressor da ideologia do bem-estar -sorridente e vitoriosa pela facilidade sedutora de suas receitas: esqueçam suas complicadas esperanças existenciais, políticas, sociais.
A saúde, a forma física, o conforto -em suma, a vida é o que interessa, o resto não tem pressa.
quinta-feira, 17 de maio de 2001
Pena de morte
Na quinta-feira passada, comentando o crime de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, evoquei figuras de criminosos repugnantes.
Alguns leitores observaram (com razão) que, de qualquer forma, as explicações sociológicas ou psicológicas não valem como desculpas. E perguntaram: "Você é contra ou a favor da pena de morte?". Uma leitora foi mais específica: "Como psicanalista, o que você pensa sobre a pena de morte?".
Imagine que um deus, um poder absoluto ou um texto sagrado declarem que quem roubar ou assaltar será enforcado (ou terá a mão cortada). Nesse caso, puxar a corda, afiar a faca ou assistir à execução seria simples, pois a responsabilidade moral do veredicto não estaria conosco. Nas sociedades tradicionais, em que a punição é decidida por uma autoridade superior a todos, as execuções podem ser públicas: a coletividade festeja o soberano que se encarregou da justiça -que alívio!
A coisa é mais complicada na modernidade, em que os cidadãos comuns (como você e eu) são a fonte de toda a autoridade jurídica e moral. Hoje, no mundo ocidental, se alguém é executado, o braço que mata é, em última instância, o dos cidadãos -o nosso. Mesmo que o condenado seja indiscutivelmente culpado, pairam mil dúvidas. Matar um condenado à morte não é mais uma festa, pois é difícil celebrar o triunfo de uma moral que é tecida de perplexidades. As execuções acontecem em lugares fechados, diante de poucas testemunhas: há uma espécie de vergonha. Essa discrição é apresentada como um progresso: os povos civilizados não executam seus condenados nas praças. Mas o dito progresso é, de fato, um corolário da incerteza ética de nossa cultura.
Para entender melhor essa transformação moral, considere, na tradição cristã, a passagem do Antigo para o Novo Testamento. A lei bíblica de talião (olho por olho, dente por dente) é exemplar de uma sociedade tradicional: a autoridade de um texto codifica a retaliação como punição adequada. Do talião passamos à recomendação de Cristo: "Quem estiver sem pecado jogue a primeira pedra". Agora devemos achar em nós mesmos a autoridade moral para julgar.
Às vezes, para evitar essa responsabilidade impossível, preferimos pensar que todos os criminosos sejam vítimas das circunstâncias ou de seus genes -portanto irresponsáveis. Convencidos de carregar em nós mesmos os germes de qualquer depravação, não ousamos mais punir. Caímos numa abstinência moral.
Uma versão laica (e psicanalítica) da recomendação do Evangelho diria assim: só podemos punir de maneira radical se, punindo, não estivermos reprimindo nos outros algo que queremos de fato reprimir em nós. Explico.
Freud descobriu que, cada vez que somos levados a desistir de alguma satisfação, a raiva de ter que renunciar se transforma em vontade de policiar e de reprimir os outros. A obediência às regras da comunidade nos pesa: consolamo-nos e vingamo-nos punindo os infratores. Ou seja, quanto mais somos reprimidos, tanto mais nos tornamos repressores. Por exemplo, já queimamos ou degredamos homossexuais e sodomitas como medida de proteção contra nossos próprios desejos homoeróticos, que julgávamos perigosos para a constituição de "saudáveis" comunidades cristãs.
Em suma, reprimimos em nós desejos e fantasias cuja atuação nos parece ameaçar o convívio social. Logo, frustrados, zelamos pela prisão daqueles que não se impõem as mesmas renúncias. Até aqui, tudo bem: reprimir é mesmo parecido com prender -a vida social pede que confinemos desejos e pessoas.
Mas a coisa muda quando a pena é radical, pois há o risco de que a morte do culpado sirva para nos dar a ilusão de liquidar, com ele, o que há de pior em nós. Nesse caso, a execução do condenado é usada para limpar nossa alma. É como se, por exemplo, querendo coibir suas vontades masturbatórias, em vez de enclausurar seus pensamentos impuros, um sujeito se automutilasse.
Assim, no século 19, houve médicos que, para reprimir (em sua cabeça, naturalmente) o escândalo de que houvesse um desejo sexual feminino, passaram a cauterizar o clitóris das meninas com ferro incandescente.
Nas cadeias brasileiras, os estupradores são executados pelos outros presos.
Por mais que essa regra seja explicada pela necessidade de proteger as mulheres dos presos que ficaram sozinhas "lá fora", é difícil não suspeitar que, nessa prática, os presos queiram sobretudo liquidar seu próprio desejo de estuprar (ou de serem estuprados) na cadeia. Em geral, a justiça sumária é isso: uma pressa em suprimir desejos inconfessáveis de quem faz justiça.
A resposta à leitora, então, é que, como psicanalista, apenas gostaria que a morte dos culpados não servisse para exorcizar nossas piores fantasias -isso sobretudo porque o exorcismo seria ilusório.
Contudo é possível que haja crimes hediondos nos quais não reconhecemos nada de nossos desejos reprimidos. Quando esse fosse o caso, por que a pena não seria a morte? Pois é, o caminho está cheio de pedras, quem achar isso mesmo que se sirva...
Alguns leitores observaram (com razão) que, de qualquer forma, as explicações sociológicas ou psicológicas não valem como desculpas. E perguntaram: "Você é contra ou a favor da pena de morte?". Uma leitora foi mais específica: "Como psicanalista, o que você pensa sobre a pena de morte?".
Imagine que um deus, um poder absoluto ou um texto sagrado declarem que quem roubar ou assaltar será enforcado (ou terá a mão cortada). Nesse caso, puxar a corda, afiar a faca ou assistir à execução seria simples, pois a responsabilidade moral do veredicto não estaria conosco. Nas sociedades tradicionais, em que a punição é decidida por uma autoridade superior a todos, as execuções podem ser públicas: a coletividade festeja o soberano que se encarregou da justiça -que alívio!
A coisa é mais complicada na modernidade, em que os cidadãos comuns (como você e eu) são a fonte de toda a autoridade jurídica e moral. Hoje, no mundo ocidental, se alguém é executado, o braço que mata é, em última instância, o dos cidadãos -o nosso. Mesmo que o condenado seja indiscutivelmente culpado, pairam mil dúvidas. Matar um condenado à morte não é mais uma festa, pois é difícil celebrar o triunfo de uma moral que é tecida de perplexidades. As execuções acontecem em lugares fechados, diante de poucas testemunhas: há uma espécie de vergonha. Essa discrição é apresentada como um progresso: os povos civilizados não executam seus condenados nas praças. Mas o dito progresso é, de fato, um corolário da incerteza ética de nossa cultura.
Para entender melhor essa transformação moral, considere, na tradição cristã, a passagem do Antigo para o Novo Testamento. A lei bíblica de talião (olho por olho, dente por dente) é exemplar de uma sociedade tradicional: a autoridade de um texto codifica a retaliação como punição adequada. Do talião passamos à recomendação de Cristo: "Quem estiver sem pecado jogue a primeira pedra". Agora devemos achar em nós mesmos a autoridade moral para julgar.
Às vezes, para evitar essa responsabilidade impossível, preferimos pensar que todos os criminosos sejam vítimas das circunstâncias ou de seus genes -portanto irresponsáveis. Convencidos de carregar em nós mesmos os germes de qualquer depravação, não ousamos mais punir. Caímos numa abstinência moral.
Uma versão laica (e psicanalítica) da recomendação do Evangelho diria assim: só podemos punir de maneira radical se, punindo, não estivermos reprimindo nos outros algo que queremos de fato reprimir em nós. Explico.
Freud descobriu que, cada vez que somos levados a desistir de alguma satisfação, a raiva de ter que renunciar se transforma em vontade de policiar e de reprimir os outros. A obediência às regras da comunidade nos pesa: consolamo-nos e vingamo-nos punindo os infratores. Ou seja, quanto mais somos reprimidos, tanto mais nos tornamos repressores. Por exemplo, já queimamos ou degredamos homossexuais e sodomitas como medida de proteção contra nossos próprios desejos homoeróticos, que julgávamos perigosos para a constituição de "saudáveis" comunidades cristãs.
Em suma, reprimimos em nós desejos e fantasias cuja atuação nos parece ameaçar o convívio social. Logo, frustrados, zelamos pela prisão daqueles que não se impõem as mesmas renúncias. Até aqui, tudo bem: reprimir é mesmo parecido com prender -a vida social pede que confinemos desejos e pessoas.
Mas a coisa muda quando a pena é radical, pois há o risco de que a morte do culpado sirva para nos dar a ilusão de liquidar, com ele, o que há de pior em nós. Nesse caso, a execução do condenado é usada para limpar nossa alma. É como se, por exemplo, querendo coibir suas vontades masturbatórias, em vez de enclausurar seus pensamentos impuros, um sujeito se automutilasse.
Assim, no século 19, houve médicos que, para reprimir (em sua cabeça, naturalmente) o escândalo de que houvesse um desejo sexual feminino, passaram a cauterizar o clitóris das meninas com ferro incandescente.
Nas cadeias brasileiras, os estupradores são executados pelos outros presos.
Por mais que essa regra seja explicada pela necessidade de proteger as mulheres dos presos que ficaram sozinhas "lá fora", é difícil não suspeitar que, nessa prática, os presos queiram sobretudo liquidar seu próprio desejo de estuprar (ou de serem estuprados) na cadeia. Em geral, a justiça sumária é isso: uma pressa em suprimir desejos inconfessáveis de quem faz justiça.
A resposta à leitora, então, é que, como psicanalista, apenas gostaria que a morte dos culpados não servisse para exorcizar nossas piores fantasias -isso sobretudo porque o exorcismo seria ilusório.
Contudo é possível que haja crimes hediondos nos quais não reconhecemos nada de nossos desejos reprimidos. Quando esse fosse o caso, por que a pena não seria a morte? Pois é, o caminho está cheio de pedras, quem achar isso mesmo que se sirva...
quinta-feira, 10 de maio de 2001
O crime de Santa Teresa e o "custo modernidade"
No Rio de Janeiro, nesses dias, é difícil conversar com amigos ou com desconhecidos sem que seja evocado dolorosamente o crime que ocorreu em Santa Teresa no 26 de abril. A cidade está consternada com o assassinato de Márcia Maria Coelho Lira, torturada e estuprada ao lado da filha de 13 anos (esta esfaqueada), enquanto o ex-marido e o filho de 15 escutavam tudo amarrados no quarto ao lado.
Dos responsáveis, somente Alan Marques da Costa, 18 anos, está preso. Marcelo Melo Gonçalves dos Santos morreu na polícia, "suicidado". Foi difícil encontrar coveiros que aceitassem sepultá-lo. Um terceiro permanece foragido.
Com o passar dos dias, a indignação e o nojo parecem confluir para uma depressão generalizada. O crime demonstraria, num horror conclusivo, a falência da sociedade brasileira. Aliás, que sociedade é essa -argumenta-se-, em que os diferentes só se encontram num ódio extremo?
Ora, não penso que o crime de Santa Teresa expresse a falência do convívio social brasileiro. Sou mais pessimista: acho que ele é uma expressão terrificante e exemplar de propriedades que são inerentes a toda a modernidade ocidental e que prometem formas inéditas de violência, sobretudo adolescente -no Brasil ou alhures. Em suma, o crime de Santa Teresa não é um "custo Brasil", mas um "custo modernidade". Por quê?
Idealizamos a rebeldia como a maneira certa de o indivíduo afirmar-se diante de qualquer autoridade. Para que a autoridade seja automaticamente passível de crítica radical, decretamos que ela é, por definição, sustentada em última instância pelo exercício da força. Em outras palavras, aos nossos olhos, quem está acima de nós se mantém sempre por seu braço armado ou musculoso. Por consequência, a violência aparece como nossa resposta mais autêntica: o gesto que manifesta e preserva nossa autonomia.
A idealização da rebeldia violenta tem efeitos preciosos. Ela faz, por exemplo, que a revolução seja para nós um direito fundamental. Mas essa mesma idealização torna impossíveis, em nossa cultura, as tarefas de educar e de ser pai, de ser filho ou de ser filha, pois, se a rebeldia violenta é a melhor maneira de afirmar nossa liberdade diante de qualquer autoridade, é inevitável um estado de guerra entre gerações.
O crime de Santa Teresa foi decidido e concebido por Alan, o pedreiro de 18 anos que havia meses trabalhava na reforma da casa de Márcia, uma residência simples. Márcia confiava em Alan. Segundo os planos, ele continuaria trabalhando na casa (quase "em casa") por bastante tempo ainda. Além de pagar um salário correto, Márcia oferecia presentes. Sua cordialidade não devia ser condescendente, mas manifestar uma real simpatia pelo rapaz. Talvez não seja errado dizer que, de uma certa forma, a família "adotara" o jovem.
O que queria então Alan no 26 de abril? Dinheiro e objetos ele sabia que havia poucos. A resposta talvez esteja em suas palavras: chegou esbravejando que ele pertencia ao Comando Vermelho e que já matara não sei quantos. Eram mentiras, que evocam, para qualquer terapeuta, os numerosos adolescentes "confessando" que se drogam muito mais do que de fato fazem ou, por exemplo, que já estiveram presos, quando, na verdade, eles têm um currículo de bons moços.
Se muitos adolescentes contam vantagem desse jeito estranho, é porque constatam que a violência é o caminho do reconhecimento. Fácil entender como: respeitar a lei é ser conforme -o que é péssimo para uma cultura que promove a singularidade. Ser do mal é a melhor maneira de se afirmar como uma exceção -um verdadeiro indivíduo.
Provavelmente Márcia, com sua compreensão ou mesmo seu afeto, alimentava em Alan a vontade de desastre. Aceitar o cuidado de um adulto implica o risco de perder a autonomia que a cultura preza. É um pensamento frequente: "Eles me amam como um bom moço? Agora lhes mostrarei quem eu sou! Bem diferente daquele que eles gostam que eu seja". Alguns só sonham com isso, uns ameaçam ou brincam de transgressão, outros, como Alan, aproveitam para soltar sua abjeção.
Aposto que Alan adorava se sentir aceito, incluído, graças às gentilezas de Márcia. Mas por isso mesmo devia querer demonstrar que ele não era nenhum vassalo. Conseguiu isso, sendo, literalmente, um terror. O estupro serviu para negar o lugar especial -quase materno- que Márcia devia ocupar para ele. Maneira de dizer: "Ninguém me nina, só conheço corpos quaisquer".
Agora, se você achar que nossa cultura não idealiza rebeldia e violência a ponto de tornar o horror de Santa Teresa exemplarmente moderno, assista a "Laranja Mecânica", de Kubrick. Espontaneamente, o espectador é levado a considerar o humilhante condicionamento imposto ao jovem delinquente do filme como uma metáfora apropriada de qualquer educação. De repente, a violência monstruosa da gangue se afirma como símbolo positivo de liberdade.
Cuidado: Kubrick, no caso, não inventou os ideais de nossa cultura. Apenas revelou.
Dos responsáveis, somente Alan Marques da Costa, 18 anos, está preso. Marcelo Melo Gonçalves dos Santos morreu na polícia, "suicidado". Foi difícil encontrar coveiros que aceitassem sepultá-lo. Um terceiro permanece foragido.
Com o passar dos dias, a indignação e o nojo parecem confluir para uma depressão generalizada. O crime demonstraria, num horror conclusivo, a falência da sociedade brasileira. Aliás, que sociedade é essa -argumenta-se-, em que os diferentes só se encontram num ódio extremo?
Ora, não penso que o crime de Santa Teresa expresse a falência do convívio social brasileiro. Sou mais pessimista: acho que ele é uma expressão terrificante e exemplar de propriedades que são inerentes a toda a modernidade ocidental e que prometem formas inéditas de violência, sobretudo adolescente -no Brasil ou alhures. Em suma, o crime de Santa Teresa não é um "custo Brasil", mas um "custo modernidade". Por quê?
Idealizamos a rebeldia como a maneira certa de o indivíduo afirmar-se diante de qualquer autoridade. Para que a autoridade seja automaticamente passível de crítica radical, decretamos que ela é, por definição, sustentada em última instância pelo exercício da força. Em outras palavras, aos nossos olhos, quem está acima de nós se mantém sempre por seu braço armado ou musculoso. Por consequência, a violência aparece como nossa resposta mais autêntica: o gesto que manifesta e preserva nossa autonomia.
A idealização da rebeldia violenta tem efeitos preciosos. Ela faz, por exemplo, que a revolução seja para nós um direito fundamental. Mas essa mesma idealização torna impossíveis, em nossa cultura, as tarefas de educar e de ser pai, de ser filho ou de ser filha, pois, se a rebeldia violenta é a melhor maneira de afirmar nossa liberdade diante de qualquer autoridade, é inevitável um estado de guerra entre gerações.
O crime de Santa Teresa foi decidido e concebido por Alan, o pedreiro de 18 anos que havia meses trabalhava na reforma da casa de Márcia, uma residência simples. Márcia confiava em Alan. Segundo os planos, ele continuaria trabalhando na casa (quase "em casa") por bastante tempo ainda. Além de pagar um salário correto, Márcia oferecia presentes. Sua cordialidade não devia ser condescendente, mas manifestar uma real simpatia pelo rapaz. Talvez não seja errado dizer que, de uma certa forma, a família "adotara" o jovem.
O que queria então Alan no 26 de abril? Dinheiro e objetos ele sabia que havia poucos. A resposta talvez esteja em suas palavras: chegou esbravejando que ele pertencia ao Comando Vermelho e que já matara não sei quantos. Eram mentiras, que evocam, para qualquer terapeuta, os numerosos adolescentes "confessando" que se drogam muito mais do que de fato fazem ou, por exemplo, que já estiveram presos, quando, na verdade, eles têm um currículo de bons moços.
Se muitos adolescentes contam vantagem desse jeito estranho, é porque constatam que a violência é o caminho do reconhecimento. Fácil entender como: respeitar a lei é ser conforme -o que é péssimo para uma cultura que promove a singularidade. Ser do mal é a melhor maneira de se afirmar como uma exceção -um verdadeiro indivíduo.
Provavelmente Márcia, com sua compreensão ou mesmo seu afeto, alimentava em Alan a vontade de desastre. Aceitar o cuidado de um adulto implica o risco de perder a autonomia que a cultura preza. É um pensamento frequente: "Eles me amam como um bom moço? Agora lhes mostrarei quem eu sou! Bem diferente daquele que eles gostam que eu seja". Alguns só sonham com isso, uns ameaçam ou brincam de transgressão, outros, como Alan, aproveitam para soltar sua abjeção.
Aposto que Alan adorava se sentir aceito, incluído, graças às gentilezas de Márcia. Mas por isso mesmo devia querer demonstrar que ele não era nenhum vassalo. Conseguiu isso, sendo, literalmente, um terror. O estupro serviu para negar o lugar especial -quase materno- que Márcia devia ocupar para ele. Maneira de dizer: "Ninguém me nina, só conheço corpos quaisquer".
Agora, se você achar que nossa cultura não idealiza rebeldia e violência a ponto de tornar o horror de Santa Teresa exemplarmente moderno, assista a "Laranja Mecânica", de Kubrick. Espontaneamente, o espectador é levado a considerar o humilhante condicionamento imposto ao jovem delinquente do filme como uma metáfora apropriada de qualquer educação. De repente, a violência monstruosa da gangue se afirma como símbolo positivo de liberdade.
Cuidado: Kubrick, no caso, não inventou os ideais de nossa cultura. Apenas revelou.
quinta-feira, 3 de maio de 2001
O futuro encolheu
O que nos reserva o futuro? Será que a Argentina conseguirá se recuperar? Greenspan vai baixar as taxas de juros em um quarto ou em meio ponto? ACM, Jader Barbalho e José Roberto Arruda serão cassados? E quanto vai crescer o Brasil em 2001? Como será a balança comercial no fim do ano? E o dólar?
Será que nossos filhos entrarão na faculdade? Arrumarão um bom emprego? Encontrarão amigos e companheiros legais? E nós, com quem e onde passaremos as férias de julho?
Fecho os olhos e tento me lembrar. Posso estar enganado, mas me parece que o futuro está ficando mais curto e, por consequência, mais prosaico.
Há apenas duas ou três décadas, o futuro nos ameaçava de extinção ou então enchia nossos peitos de entusiasmos reformadores. Ele era extenso, prolongado: nós nos preocupávamos com catástrofes ou transformações ambiciosas, radicais. Algo mudou.
Justamente, George Steiner acaba de publicar "Grammars of Creation" (Gramáticas da Criação), livro no qual mostra que, ao longo do século 20, a sensibilidade moderna tornou-se vespertina, crepuscular. Vivemos como se fosse um fim de tarde: antevemos a chegada próxima da noite e pensamos sobretudo no futuro imediato, como se faltasse tempo. Com isso, fica complicado criar ou inventar -na arte como na vida-, pois é difícil acreditar em começos radicais e ter a coragem transformadora quando o pôr-do-sol alonga as sombras. Em suma, o futuro que orienta nossas vidas encolheu.
Há, para esse fenômeno, uma explicação feita: o fim dos grandes sonhos progressistas. Sonhávamos com o sol do socialismo, deu chuva. Nós nos decepcionamos e agora esperamos apenas miudagens: um aumento de salário, uma velhice legal.
Steiner propõe outra explicação. O futuro -o próprio tempo gramatical- teria chegado tarde à fala humana, inventado como consolação diante da intolerável perspectiva da morte. Somos mortais, mas ajuda pensar que sobreviveremos, quer seja num além divino, quer seja na permanência de nossos projetos. Ora, Steiner acha que os horrores do século 20, além de questionarem a racionalidade de nossas esperanças, nos familiarizaram demais com a morte.
À força de extermínios, os humanos teriam aprendido a morrer ou, no mínimo, a conviver com a mortalidade. Em suma, se a morte nos assusta menos por ser uma presença familiar, torna-se supérfluo o futuro -que fora inventado para compensar o horror da morte.
Seja qual for a explicação, no século que acaba, nossa experiência do futuro mudou. De que jeito?
Acordando de manhã, você volta para o presente e para futuros diferentes. O presente é o reencontro com o parceiro ou a parceira depois da solidão onírica da noite. Ou então o frescor do linho do travesseiro no rosto. Menos agradável, ele pode ser um gosto de ressaca e a volta de dores do corpo esquecidas no sono. De qualquer forma, são momentos breves, quase roubados.
Nós, modernos, acordando, voltamos sobretudo para o futuro. Pois nos definimos pela capacidade de mudança -não pelo que somos, mas pelo que poderíamos vir a ser: projetos e potencialidades. O tempo de nossa vida é o futuro. Em nossos despertares cotidianos, portanto, podemos ter uma experiência fugaz e minoritária do presente, mas é a voz do futuro que nos acorda e nos força a sair da cama.
A questão é: qual futuro? Ele pode ser de longo prazo: desde o apelo do dever de produzir um mundo mais justo até o medo das águas que subirão por causa do efeito estufa. Ou então ele pode ser imediato: as tarefas do dia que começa, as necessidades do fim do mês, a perspectiva de um encontro poucas horas mais tarde.
Do século 17 até o começo do século 20, o tempo dominante na experiência de nossa cultura parece ter sido um futuro grandioso -projetos coletivos a longo prazo. Hoje prevalece o futuro dos afazeres imediatos. Nada de utopia, somente a agenda do dia.
Trata-se de uma nova experiência do tempo: uma maneira original de ser e de criar. Como Steiner se apressa a declarar, não há por que sermos nostálgicos dos futuros que já foram. Afinal, aqueles futuros tornaram-se frequentemente cúmplices da barbárie do século. Por que será, então, que acho o futuro encolhido de hoje um pouco inquietante?
É que o futuro não foi inventado, como sugere Steiner, só para espantar a morte. O futuro nos serve também para impor disciplina ao presente. Ele é nosso árbitro moral. Esperamos dele que avalie nossos atos.
Por exemplo, somos justos (ou tentamos ser) porque seremos recompensados ou punidos no futuro (pelo juízo divino ou pelo julgamento da história). Outro exemplo, mais prosaico: paramos de fumar, fazemos exercício e adotamos regimes porque seremos julgados por nossa saúde futura.
Em suma, a qualidade de nossos atos de hoje depende do futuro com o qual sonhamos. Nossa conduta tenta agradar ao tribunal que nos espera, seja ele o vale de Josafá ou nosso próximo exame de colesterol. Tanto faz. Mas receio que futuros muito encolhidos comandem vidas francamente mesquinhas.
quinta-feira, 26 de abril de 2001
O segredo da acumulação primitiva neoliberal
Na quarta-feira da semana passada, a coluna de Elio Gaspari na Folha evocava o drama recente de um navio de crianças escravas errando ao largo da costa do Benin. Ao ler o texto -que era inspirado-, o navio tornava-se uma metáfora de toda a África subsaariana: ilha à deriva, mistura de leprosário com campo de extermínio e reserva de mão-de-obra para migrações desesperadas.
Além da África, a viagem do navio negreiro evocava o sofrimento de imigrantes asfixiados em caminhões que atravessavam o Canal da Mancha, afogados no meio do rio Grande ou vencidos pelo sol e pela sede no deserto do Texas -os heróis das fotografias de Sebastião Salgado.
Elio Gaspari propunha um termo para designar esse povo móvel e desesperado: "os cidadãos descartáveis". "Massas de homens e mulheres são arrancadas de seus meios de subsistência e jogadas no mercado de trabalho como proletários livres, desprotegidos e sem direitos." São palavras de Marx, quando ele descreve a "acumulação primitiva", ou seja, o processo que, no século 16, criou as condições necessárias ao surgimento do capitalismo.
Para que ganhássemos nosso mundo moderno, foi necessário, por exemplo, que os servos feudais fossem, à força, expropriados do pedacinho de terra que podiam cultivar para sustentar-se. Massas inteiras se encontraram assim, paradoxalmente, livres da servidão, mas obrigadas a vender seu trabalho para sobreviver.
Quatro ou cinco séculos mais tarde, essa violência não deveria ter acabado? Ao que parece, o século 20 pediu uma espécie de segunda rodada, um ajuste: a criação de sujeitos descartáveis globais para um capitalismo enfim global.
Simples continuação ou repetição? Talvez haja uma diferença -pequena, mas substancial- entre as massas do século 16 e os migrantes da globalização: as primeiras foram arrancadas de seus meios de subsistência, os segundos são expropriados de seu lugar por uma violência comparável à da fome, por exemplo, mas quase sempre eles recebem em troca um devaneio. O protótipo poderia ser o prospecto que, um século atrás, seduzia os emigrantes europeus: sonhos de posse, de bem-estar e de ascensão social.
As condições para que o capitalismo invente sua versão neoliberal são subjetivas. A expropriação que torna a passagem possível é psicológica: necessita que sejamos arrancados nem tanto de nossos meios de subsistência, mas de nossa comunidade restrita, familiar e social, para sermos lançados numa procura infinita de status (e, hipoteticamente, de bem-estar) definido pelo acesso a bens e serviços. Arrancados de nós mesmos, devemos querer ardentemente ser outra coisa do que somos.
Depois da liberdade de vender nossa força de trabalho, a "acumulação primitiva" do neoliberalismo nos oferece a liberdade de mudar e subir na vida, ou seja, de cultivar visões, sonhos e devaneios de aventura e de sucesso. E, desde o prospecto do emigrante, a oferta vem se aprimorando. A partir dos anos 60, por exemplo, a televisão forneceu os sonhos para que o campo não só devesse, mas quisesse ir para a cidade.
Cuidado: a criação das condições psicológicas necessárias para o neoliberalismo não coincide com a simples promoção de um consumo massificado.
O requisito para que a máquina neoliberal funcione é mais refinado do que a venda dos mesmos sabonetes ou filmes para todos. Trata-se de alimentar um sonho infinito de perfectibilidade e, portanto, uma insatisfação radical. Não é pouca coisa: é necessário promover e vender objetos e serviços por eles serem indispensáveis para alcançarmos nossos ideais de status, de bem-estar e de felicidade, mas, ao mesmo tempo, é preciso que toda satisfação conclusiva permaneça impossível.
Para fomentar o sujeito neoliberal, o que importa não é lhe vender mais uma roupa, uma cortina ou uma lipoaspiração. Mas alimentar nele sonhos de elegância perfeita, casa perfeita e corpo perfeito. Pois esses sonhos perpetuam o sentimento de nossa inadequação e garantem, assim, que ele seja parte inalterável, definidora da personalidade contemporânea.
Provavelmente seria uma catástrofe se pudéssemos, de repente, acalmar nossa insatisfação. Aconteceria uma queda total do índice de confiança dos consumidores. Bolsas e economia iriam para o brejo. Desemprego, crise etc.
Melhor deixar como está. No entanto a coisa não fica bem. Do meu pequeno observatório psicanalítico, parece que o permanente sentimento de inadequação faz do sujeito neoliberal uma espécie de sonhador descartável, que corre atrás da miragem de sua felicidade como um trem descontrolado, sem condutor, acelerando progressivamente por inércia -até que os trilhos não aguentem mais.
PS: Ocorre-me que, na coluna da semana passada, eu lamentava que a imprensa vendesse, às vezes, sonhos indiscriminados de felicidade e de perfeição. Uma amiga comentou que o texto lhe parecera "patrulheiro", ou seja, estraga prazeres. Pois é, sem querer, acho que respondi um pouco. E-mail:
Além da África, a viagem do navio negreiro evocava o sofrimento de imigrantes asfixiados em caminhões que atravessavam o Canal da Mancha, afogados no meio do rio Grande ou vencidos pelo sol e pela sede no deserto do Texas -os heróis das fotografias de Sebastião Salgado.
Elio Gaspari propunha um termo para designar esse povo móvel e desesperado: "os cidadãos descartáveis". "Massas de homens e mulheres são arrancadas de seus meios de subsistência e jogadas no mercado de trabalho como proletários livres, desprotegidos e sem direitos." São palavras de Marx, quando ele descreve a "acumulação primitiva", ou seja, o processo que, no século 16, criou as condições necessárias ao surgimento do capitalismo.
Para que ganhássemos nosso mundo moderno, foi necessário, por exemplo, que os servos feudais fossem, à força, expropriados do pedacinho de terra que podiam cultivar para sustentar-se. Massas inteiras se encontraram assim, paradoxalmente, livres da servidão, mas obrigadas a vender seu trabalho para sobreviver.
Quatro ou cinco séculos mais tarde, essa violência não deveria ter acabado? Ao que parece, o século 20 pediu uma espécie de segunda rodada, um ajuste: a criação de sujeitos descartáveis globais para um capitalismo enfim global.
Simples continuação ou repetição? Talvez haja uma diferença -pequena, mas substancial- entre as massas do século 16 e os migrantes da globalização: as primeiras foram arrancadas de seus meios de subsistência, os segundos são expropriados de seu lugar por uma violência comparável à da fome, por exemplo, mas quase sempre eles recebem em troca um devaneio. O protótipo poderia ser o prospecto que, um século atrás, seduzia os emigrantes europeus: sonhos de posse, de bem-estar e de ascensão social.
As condições para que o capitalismo invente sua versão neoliberal são subjetivas. A expropriação que torna a passagem possível é psicológica: necessita que sejamos arrancados nem tanto de nossos meios de subsistência, mas de nossa comunidade restrita, familiar e social, para sermos lançados numa procura infinita de status (e, hipoteticamente, de bem-estar) definido pelo acesso a bens e serviços. Arrancados de nós mesmos, devemos querer ardentemente ser outra coisa do que somos.
Depois da liberdade de vender nossa força de trabalho, a "acumulação primitiva" do neoliberalismo nos oferece a liberdade de mudar e subir na vida, ou seja, de cultivar visões, sonhos e devaneios de aventura e de sucesso. E, desde o prospecto do emigrante, a oferta vem se aprimorando. A partir dos anos 60, por exemplo, a televisão forneceu os sonhos para que o campo não só devesse, mas quisesse ir para a cidade.
Cuidado: a criação das condições psicológicas necessárias para o neoliberalismo não coincide com a simples promoção de um consumo massificado.
O requisito para que a máquina neoliberal funcione é mais refinado do que a venda dos mesmos sabonetes ou filmes para todos. Trata-se de alimentar um sonho infinito de perfectibilidade e, portanto, uma insatisfação radical. Não é pouca coisa: é necessário promover e vender objetos e serviços por eles serem indispensáveis para alcançarmos nossos ideais de status, de bem-estar e de felicidade, mas, ao mesmo tempo, é preciso que toda satisfação conclusiva permaneça impossível.
Para fomentar o sujeito neoliberal, o que importa não é lhe vender mais uma roupa, uma cortina ou uma lipoaspiração. Mas alimentar nele sonhos de elegância perfeita, casa perfeita e corpo perfeito. Pois esses sonhos perpetuam o sentimento de nossa inadequação e garantem, assim, que ele seja parte inalterável, definidora da personalidade contemporânea.
Provavelmente seria uma catástrofe se pudéssemos, de repente, acalmar nossa insatisfação. Aconteceria uma queda total do índice de confiança dos consumidores. Bolsas e economia iriam para o brejo. Desemprego, crise etc.
Melhor deixar como está. No entanto a coisa não fica bem. Do meu pequeno observatório psicanalítico, parece que o permanente sentimento de inadequação faz do sujeito neoliberal uma espécie de sonhador descartável, que corre atrás da miragem de sua felicidade como um trem descontrolado, sem condutor, acelerando progressivamente por inércia -até que os trilhos não aguentem mais.
PS: Ocorre-me que, na coluna da semana passada, eu lamentava que a imprensa vendesse, às vezes, sonhos indiscriminados de felicidade e de perfeição. Uma amiga comentou que o texto lhe parecera "patrulheiro", ou seja, estraga prazeres. Pois é, sem querer, acho que respondi um pouco. E-mail:
quinta-feira, 19 de abril de 2001
Felicidade e facilidade na capa
A partir dos anos 70, as tribulações e as esperanças de cada dia pararam de ser assuntos frívolos. Na imprensa, cresceu o número de artigos sobre comportamento, sociedade e vida cotidiana. Talvez os novos temas distraíssem os leitores de afazeres mais sérios, mas, pelo menos, a maioria das reportagens indagava os objetos escolhidos. Imagine uma capa sobre o elixir de longa vida: os artigos relatariam os entusiasmos populares, mas logo exporiam os interesses econômicos em jogo e questionariam a credulidade das massas.
Algo mudou. As páginas de comportamento e de vida cotidiana são cada vez mais importantes na imprensa, mas muitas reportagens parecem sobretudo alimentar ilusões.
Acontece em todos os jornais e revistas. Esta semana foi a vez de "Istoé". Matéria de capa: "A Receita da Felicidade". Bravamente o artigo tenta mostrar a complexidade da questão, mas títulos e subtítulos desmentem o esforço dos repórteres. Por exemplo, é citada inicialmente, no texto, uma pesquisa americana insossa que acha possível nos ensinar a sermos felizes. No fim do parágrafo, os jornalistas comentam, justamente irônicos: "Simples assim". Mas o subtítulo da matéria contradiz qualquer ironia: "Cientistas comprovam que a felicidade etc". O mesmo vale para as "janelas" que acompanham o texto: são os "truques" dietéticos "para levantar o astral" e a própria "receita da felicidade".
Na semana passada, foi a vez de "Época". Nesse caso, o título da matéria de capa -"A Reconstrução do Corpo"- concordava plenamente com a reportagem: os leitores aprendiam que "técnicas arrojadas permitem o encontro das formas perfeitas". Parece-me que, poucos anos atrás, uma reportagem sobre esse tema desmascararia os lucros da indústria da aparência física, exporia os riscos das cirurgias e enumeraria as patologias do desejo de modificação corporal.
Enfim, indicaria que a insatisfação com o próprio corpo expressa quase sempre um sentimento de inadequação que se origina em outras áreas da vida, mais fundamentais e perniciosas (inadequação no amor, nos relacionamentos etc).
Mas nossa época prefere que a beleza seja fácil. E que a felicidade seja receitável.
O fenômeno não é só brasileiro. A capa de "U.S. News", de poucas semanas atrás, prometia revelar enfim "os segredos da gagueira". Ora, a reportagem propunha uma versão apenas melhorada da pedagogia da palavra de apoio que, há décadas, permite que os gagos falem. Na mesma data, a capa de "Time" convidava o leitor a descobrir "as novas curas prometedoras para centenas de fobias". De fato, do Paxil às terapias do comportamento, a única coisa nova no artigo era o otimismo de seu subtítulo.
Esse jornalismo sorridente, para festejar soluções, está disposto a inventar de maneira radical. Recentemente foi divulgada uma pesquisa sobre a localização cerebral do amor: a paixão parece ativar zonas diferentes da ternura. Isso não tem nenhuma implicação para a vida da gente. Mas o "Boston Globe", em vez de perguntar, sei lá, se a pesquisa valia o dinheiro que custou, prometeu a todos, no futuro, paixões como a de Brad Pitt por Jennifer Aniston, logo transformadas na tranquila felicidade de Paul Newman com Joanne Woodward.
O que está acontecendo? Há a hipótese paranóica: o Matrix está apoderando-se do planeta, começando pelas editorias de comportamento e de sociedade. Os extraterrestres nos preparam assim para que aceitemos a pílula da felicidade que distribuirão numa próxima invasão.
Fora essa eventualidade, resta considerar que o jornalismo da boa notícia seja um porta-voz privilegiado do momento cultural. E alguém já disse que hoje a qualquer problemática prefere-se a "solucionática".
Mas cuidado: é quase natural para nós debochar da facilidade. O romantismo nos inculcou a idéia de que as interrogações atormentadas são a nobre substância de verdade e de autenticidade. Durante muito tempo, o que não fosse triste, sombrio e difícil era considerado piegas e ridículo. O direito à felicidade, que, no começo da modernidade, foi proclamado como a nova pretensão do homem moderno, aparece hoje como uma ingenuidade para almas simplórias.
Ganhou força, sobretudo na cultura européia, a fascinação pelos impasses radicais. O impossível tornou-se sinal de elegância e de alta cultura, enquanto o possível e o realizável seriam preocupações de baixo nível. Ora, é possível que essa disposição romântica esteja se esgotando. E que, na coluna de hoje, eu seja apenas um velho rabugento que chora sobre os cacos do romantismo.
Por que não parar com isso e festejar a facilidade da felicidade? Pois é. Antes de entrar na dança, uma última pergunta: será que o sucesso da "solucionática" é o sinal de uma nova disposição de espírito mais alegre diante da tarefa de viver? Ou será que essa pretensa leveza do ser é uma vassoura com a qual empurramos furiosamente nossos problemas para baixo do tapete?
Algo mudou. As páginas de comportamento e de vida cotidiana são cada vez mais importantes na imprensa, mas muitas reportagens parecem sobretudo alimentar ilusões.
Acontece em todos os jornais e revistas. Esta semana foi a vez de "Istoé". Matéria de capa: "A Receita da Felicidade". Bravamente o artigo tenta mostrar a complexidade da questão, mas títulos e subtítulos desmentem o esforço dos repórteres. Por exemplo, é citada inicialmente, no texto, uma pesquisa americana insossa que acha possível nos ensinar a sermos felizes. No fim do parágrafo, os jornalistas comentam, justamente irônicos: "Simples assim". Mas o subtítulo da matéria contradiz qualquer ironia: "Cientistas comprovam que a felicidade etc". O mesmo vale para as "janelas" que acompanham o texto: são os "truques" dietéticos "para levantar o astral" e a própria "receita da felicidade".
Na semana passada, foi a vez de "Época". Nesse caso, o título da matéria de capa -"A Reconstrução do Corpo"- concordava plenamente com a reportagem: os leitores aprendiam que "técnicas arrojadas permitem o encontro das formas perfeitas". Parece-me que, poucos anos atrás, uma reportagem sobre esse tema desmascararia os lucros da indústria da aparência física, exporia os riscos das cirurgias e enumeraria as patologias do desejo de modificação corporal.
Enfim, indicaria que a insatisfação com o próprio corpo expressa quase sempre um sentimento de inadequação que se origina em outras áreas da vida, mais fundamentais e perniciosas (inadequação no amor, nos relacionamentos etc).
Mas nossa época prefere que a beleza seja fácil. E que a felicidade seja receitável.
O fenômeno não é só brasileiro. A capa de "U.S. News", de poucas semanas atrás, prometia revelar enfim "os segredos da gagueira". Ora, a reportagem propunha uma versão apenas melhorada da pedagogia da palavra de apoio que, há décadas, permite que os gagos falem. Na mesma data, a capa de "Time" convidava o leitor a descobrir "as novas curas prometedoras para centenas de fobias". De fato, do Paxil às terapias do comportamento, a única coisa nova no artigo era o otimismo de seu subtítulo.
Esse jornalismo sorridente, para festejar soluções, está disposto a inventar de maneira radical. Recentemente foi divulgada uma pesquisa sobre a localização cerebral do amor: a paixão parece ativar zonas diferentes da ternura. Isso não tem nenhuma implicação para a vida da gente. Mas o "Boston Globe", em vez de perguntar, sei lá, se a pesquisa valia o dinheiro que custou, prometeu a todos, no futuro, paixões como a de Brad Pitt por Jennifer Aniston, logo transformadas na tranquila felicidade de Paul Newman com Joanne Woodward.
O que está acontecendo? Há a hipótese paranóica: o Matrix está apoderando-se do planeta, começando pelas editorias de comportamento e de sociedade. Os extraterrestres nos preparam assim para que aceitemos a pílula da felicidade que distribuirão numa próxima invasão.
Fora essa eventualidade, resta considerar que o jornalismo da boa notícia seja um porta-voz privilegiado do momento cultural. E alguém já disse que hoje a qualquer problemática prefere-se a "solucionática".
Mas cuidado: é quase natural para nós debochar da facilidade. O romantismo nos inculcou a idéia de que as interrogações atormentadas são a nobre substância de verdade e de autenticidade. Durante muito tempo, o que não fosse triste, sombrio e difícil era considerado piegas e ridículo. O direito à felicidade, que, no começo da modernidade, foi proclamado como a nova pretensão do homem moderno, aparece hoje como uma ingenuidade para almas simplórias.
Ganhou força, sobretudo na cultura européia, a fascinação pelos impasses radicais. O impossível tornou-se sinal de elegância e de alta cultura, enquanto o possível e o realizável seriam preocupações de baixo nível. Ora, é possível que essa disposição romântica esteja se esgotando. E que, na coluna de hoje, eu seja apenas um velho rabugento que chora sobre os cacos do romantismo.
Por que não parar com isso e festejar a facilidade da felicidade? Pois é. Antes de entrar na dança, uma última pergunta: será que o sucesso da "solucionática" é o sinal de uma nova disposição de espírito mais alegre diante da tarefa de viver? Ou será que essa pretensa leveza do ser é uma vassoura com a qual empurramos furiosamente nossos problemas para baixo do tapete?
quinta-feira, 12 de abril de 2001
Preocupações de pais de adolescentes
"Não é nada de grave, mas você sabe como são as coisas, nós nos preocupamos com seu futuro..."
Há dois dias, essa mesma frase, quase literalmente, foi-me dita por pais diferentes. Eles tentavam comunicar assim sua angústia diante de uma guinada imprevista na vida dos filhos adolescentes.
Acontece o tempo todo: os jovens se afastam das trilhas convencionais que deveriam levar a um pouco de tranquilidade econômica e social. E os pais sofrem e resistem. Eles perdem o sono, às vezes se desesperam ou, pior, reagem com violência repressora, produzindo tragédias ou armando bombas de efeito retardado.
No alto da lista das preocupações que afligem os pais: um relacionamento amoroso muito precoce, a escolha de profissões nas quais o pão cotidiano parece incerto (artista plástico, ator de teatro, capoeirista, poeta etc.) e a decisão de interromper os estudos e de sair pelo mundo afora de mochila nas costas. Ou a vontade de encurtar o passo, reduzir a velocidade da corrida e aproveitar um pouco mais a vida -com ou sem o auxílio de um baseado.
Não é que os pais não entendam. Ao contrário, é frequente que a decisão do adolescente coincida com uma aspiração antiga do pai, da mãe ou de ambos -a retomada de um desejo ao qual eles renunciaram. Por exemplo, eles queriam tanto dar a volta ao mundo de barco a vela e acabaram no escritório de um banco. De repente, o filho ou a filha parecem querer compensar essa antiga desistência dos pais.
O "nada de grave" com o qual começa a frase citada manifesta que os pais não condenam a escolha do adolescente. Afinal, como está subentendido, eles não são manequins para ternos cinza e tailleurs azul-marinho. Eles também preferiram outra coisa do que ao sossego. Eles também quiseram ser atores de teatro, poetas, escultores ou mochileiros. Seus devaneios foram e talvez sigam sendo exuberantes. A ponto de, às vezes, os pais, apesar de agoniados pela decisão do adolescente, mal esconderem uma espécie de satisfação, como se o jovem levantasse uma bandeira que eles, feridos pelas obrigações da vida, deixaram cair. A coisa causa medo nos pais (sabe-se que o porta-bandeira leva chumbo facilmente), mas inspira orgulho. E mesmo uma certa inveja.
O inciso que segue, "você sabe como são as coisas", procura a cumplicidade de quem ouve: você -outro adulto que escuta minha queixa- sabe como a vida é complicada e dura. E, de fato, não há como discordar: a desistência não é só covardia, o sacrifício também exige coragem. Compreendemos sem dificuldade tanto as renúncias quanto as preocupações dos pais. Eles escolheram servir às obrigações da vida. Podem até admirar a revolta de seus rebentos, mas prefeririam que eles também desistissem de seus projetos ousados para garantir um futuro tranquilo. Faz sentido.
Aqui o adolescente propõe uma réplica que merece ser ouvida. Ele pergunta: por que vocês não esquecem um pouco o meu futuro? Por que não se preocupam com meu presente?
Quando olhamos para as crianças, certamente imaginamos seu futuro e desejamos que seja radioso, mas nos importa também que elas sejam felizes hoje, não só amanhã. Com o adolescente, a coisa muda: parecemos conceber sua existência como uma longa véspera, uma espécie de cursinho. Na hora em que o jovem se desvia da estrada que desejamos para ele, quase perdemos a capacidade de enxergá-lo. No seu lugar, vemos apenas o fantasma ameaçador de um futuro comprometido.
Ora, para o adolescente, a vida não é o futuro (calmo ou ousado que seja), a vida é aquela que ele está vivendo agora. Certo, todos cansamos de renunciar a desejos e prazeres em vista de um amanhã melhor. Mas acharíamos a experiência penosa, se não intolerável, se, como o adolescente, nos transformássemos numa espécie de cheque pré-datado, sendo vistos, amados ou receados apenas como a promessa do dia em que chegará a hora da compensação.
Na maioria dos casos, as famílias acabam inventando compromissos entre os medos prudentes dos pais futurólogos e as decisões do adolescente revoltado que conclama: minha vida é agora. Mas há pais irredutíveis, que nunca admitem as escolhas arriscadas dos filhos. Provavelmente a rebeldia adolescente reviva neles antigas feridas dolorosas demais. As razões, às vezes, são mesquinhas, como nesta memorável observação de um pai preocupado com o filho: "Como ele quer sair viajando, quando eu desisti de dar a volta ao mundo logo porque sua mãe ficou grávida dele e tive que botar as mãos na massa?".
Recomendo o exercício seguinte a todos os pais -e, em particular, aos pais intransigentes- na hora em que se preocupam com os efeitos futuros da rebeldia de um adolescente. Depois de bater na madeira e cruzando os dedos, perguntem-se: e se ele morresse amanhã? Se, por alguma razão, o futuro de meu rebento, que me atribula tanto, não viesse a ser? O que direi do tempo que ele viveu? Que não foi nada que valesse por conta própria, mas apenas uma espera interrompida antes que a vida começasse?
Há dois dias, essa mesma frase, quase literalmente, foi-me dita por pais diferentes. Eles tentavam comunicar assim sua angústia diante de uma guinada imprevista na vida dos filhos adolescentes.
Acontece o tempo todo: os jovens se afastam das trilhas convencionais que deveriam levar a um pouco de tranquilidade econômica e social. E os pais sofrem e resistem. Eles perdem o sono, às vezes se desesperam ou, pior, reagem com violência repressora, produzindo tragédias ou armando bombas de efeito retardado.
No alto da lista das preocupações que afligem os pais: um relacionamento amoroso muito precoce, a escolha de profissões nas quais o pão cotidiano parece incerto (artista plástico, ator de teatro, capoeirista, poeta etc.) e a decisão de interromper os estudos e de sair pelo mundo afora de mochila nas costas. Ou a vontade de encurtar o passo, reduzir a velocidade da corrida e aproveitar um pouco mais a vida -com ou sem o auxílio de um baseado.
Não é que os pais não entendam. Ao contrário, é frequente que a decisão do adolescente coincida com uma aspiração antiga do pai, da mãe ou de ambos -a retomada de um desejo ao qual eles renunciaram. Por exemplo, eles queriam tanto dar a volta ao mundo de barco a vela e acabaram no escritório de um banco. De repente, o filho ou a filha parecem querer compensar essa antiga desistência dos pais.
O "nada de grave" com o qual começa a frase citada manifesta que os pais não condenam a escolha do adolescente. Afinal, como está subentendido, eles não são manequins para ternos cinza e tailleurs azul-marinho. Eles também preferiram outra coisa do que ao sossego. Eles também quiseram ser atores de teatro, poetas, escultores ou mochileiros. Seus devaneios foram e talvez sigam sendo exuberantes. A ponto de, às vezes, os pais, apesar de agoniados pela decisão do adolescente, mal esconderem uma espécie de satisfação, como se o jovem levantasse uma bandeira que eles, feridos pelas obrigações da vida, deixaram cair. A coisa causa medo nos pais (sabe-se que o porta-bandeira leva chumbo facilmente), mas inspira orgulho. E mesmo uma certa inveja.
O inciso que segue, "você sabe como são as coisas", procura a cumplicidade de quem ouve: você -outro adulto que escuta minha queixa- sabe como a vida é complicada e dura. E, de fato, não há como discordar: a desistência não é só covardia, o sacrifício também exige coragem. Compreendemos sem dificuldade tanto as renúncias quanto as preocupações dos pais. Eles escolheram servir às obrigações da vida. Podem até admirar a revolta de seus rebentos, mas prefeririam que eles também desistissem de seus projetos ousados para garantir um futuro tranquilo. Faz sentido.
Aqui o adolescente propõe uma réplica que merece ser ouvida. Ele pergunta: por que vocês não esquecem um pouco o meu futuro? Por que não se preocupam com meu presente?
Quando olhamos para as crianças, certamente imaginamos seu futuro e desejamos que seja radioso, mas nos importa também que elas sejam felizes hoje, não só amanhã. Com o adolescente, a coisa muda: parecemos conceber sua existência como uma longa véspera, uma espécie de cursinho. Na hora em que o jovem se desvia da estrada que desejamos para ele, quase perdemos a capacidade de enxergá-lo. No seu lugar, vemos apenas o fantasma ameaçador de um futuro comprometido.
Ora, para o adolescente, a vida não é o futuro (calmo ou ousado que seja), a vida é aquela que ele está vivendo agora. Certo, todos cansamos de renunciar a desejos e prazeres em vista de um amanhã melhor. Mas acharíamos a experiência penosa, se não intolerável, se, como o adolescente, nos transformássemos numa espécie de cheque pré-datado, sendo vistos, amados ou receados apenas como a promessa do dia em que chegará a hora da compensação.
Na maioria dos casos, as famílias acabam inventando compromissos entre os medos prudentes dos pais futurólogos e as decisões do adolescente revoltado que conclama: minha vida é agora. Mas há pais irredutíveis, que nunca admitem as escolhas arriscadas dos filhos. Provavelmente a rebeldia adolescente reviva neles antigas feridas dolorosas demais. As razões, às vezes, são mesquinhas, como nesta memorável observação de um pai preocupado com o filho: "Como ele quer sair viajando, quando eu desisti de dar a volta ao mundo logo porque sua mãe ficou grávida dele e tive que botar as mãos na massa?".
Recomendo o exercício seguinte a todos os pais -e, em particular, aos pais intransigentes- na hora em que se preocupam com os efeitos futuros da rebeldia de um adolescente. Depois de bater na madeira e cruzando os dedos, perguntem-se: e se ele morresse amanhã? Se, por alguma razão, o futuro de meu rebento, que me atribula tanto, não viesse a ser? O que direi do tempo que ele viveu? Que não foi nada que valesse por conta própria, mas apenas uma espera interrompida antes que a vida começasse?
quinta-feira, 5 de abril de 2001
Dores do espírito e dos músculos
Respondendo à solicitação dos familiares, encontrei uma senhora que acabava de receber um diagnóstico de fibromialgia (literalmente: dor das fibras musculares).
A doença começa a chamar a atenção da grande imprensa. Ela foi reconhecida (ou inventada) oficialmente há uma década e afetaria hoje 2% dos americanos (sobretudo mulheres brancas). No site da fibromialgia na Internet (www.fmnetnews.com), são lembrados os critérios diagnósticos: dores corporais difusas durante três meses e vários pontos do corpo doloridos ao toque - no mínimo 11 numa lista de 18 localizações em várias regiões: pescoço, ombros, quadris, joelhos e cotovelos. Além disso, uma série de sintomas associados, um pouco incertos: fadiga, irritabilidade intestinal (qualquer coisa da diarréia à constipação), desordens do sono ou sono não-restaurador, dores após o exercício físico, dor de cabeça, cólicas menstruais e por aí vai.
A fibromialgia não tem causa conhecida e não produz alterações fisiológicas verificáveis. Os médicos estão divididos. Alguns aceitam a existência da doença e se dedicam a tratar os sintomas dela com analgésicos (inclusive opiáceos ou metadona). No extremo oposto, outros duvidam da existência de uma doença cuja única prova são as sensações relatadas pelos pacientes. A maioria dos médicos e psiquiatras se situa provavelmente no meio, perplexa.
A família da senhora recém-diagnosticada comunicara-me vários acontecimentos muito penosos que poderiam ser relacionados com o surgimento das dores. Segundo seus próximos, a senhora reagira a uma série de perdas e desastres com surpreendente indiferença e logo adoecera. Tentei levar a conversa pelo lado desses fatos recentes. A senhora não quis tocar no assunto. Para contornar essa recusa intransigente, expliquei-lhe que, mesmo que as dores estivessem relacionadas a acontecimentos infelizes, nem por isso elas seriam menos reais: aflições psíquicas podem produzir dores físicas perfeitamente autênticas. Acrescentei que, de qualquer forma, talvez não fosse inútil que ela conversasse um pouco sobre o período sofrido que acabava de atravessar. Não houve jeito, a senhora tinha sido surrada pelo destino, mas não estava disposta a considerar que seu corpo doído pudesse ser o resultado metafórico dessa surra. Ao contrário: a dor que ela sentia no corpo parecia ter a função específica de evitar questões, indagações e conversas.
Essa posição era bem compreensível. Imagine uma série de catástrofes em sua vida -como diz a expressão, uma dor de cabeça atrás da outra. Imagine agora que seja possível tomar a dor de cabeça ao pé da letra, ou seja, converter todos os seus malogros e problemas em dores físicas. Seu filho não passou de ano, você perdeu o emprego, seu parceiro sumiu e os sofrimentos psíquicos eventuais seriam resumidos por simples dores de cabeça.
Não seria maravilhoso? Curaríamos as dores da existência com um analgésico. A tranquilidade estaria nas estantes da farmácia da esquina e custaria o preço de uma Novalgina.
Logo nos dias que seguiram meus encontros com a senhora, os jornais da Costa Leste dos EUA revelaram a difusão crescente, entre os adolescentes da região, de um remédio usado como droga: o OxyContin. Trata-se de um opiáceo poderoso justamente recomendado no tratamento da fibromialgia. A venda do OxyContin é estritamente controlada, de forma que ele chega ao circuito paralelo das drogas sendo revendido por pacientes para quem ele foi prescrito. Curioso círculo, no qual artrites, ciáticas, fibromialgias etc. parecem solidárias de uma nova toxicomania.
Claro, no uso como droga, os comprimidos de OxyContin são pulverizados e inalados ou então diluídos e injetados -o que deve produzir um "barato" imediato. Mas não deixa de ser notável que uma das drogas do momento venha a ser não um alucinógeno ou qualquer coisa que altere a consciência, mas um analgésico. Como se a dor de viver pudesse aparecer hoje como uma dor física. E, portanto, sua cura consistisse em sedar a sensibilidade do corpo.
Em suma, talvez nossas dores espirituais estejam transformando-se em dores musculares. Não seria de estranhar. Afinal, definimos o bem-estar cada vez mais do lado do corpo e cada vez menos em termos psíquicos ou espirituais. Por que não aconteceria a mesma coisa com o mal-estar?
Uma piada que ouvi nestes dias resume a situação. Um fiel pergunta levando os olhos ao céu: "Senhor, quero entender, por favor: há ou não há vida após a morte? Há ou não há vida eterna?". Depois de ele muito insistir, eis que, enfim, as nuvens se abrem, aparece um raio de luz e uma voz profunda responde: "Meu filho, essa coisa de vida eterna é muito complicada. Mas posso garantir que, se fizer exercício regularmente, parar de fumar e se alimentar direito, você viverá três ou quatro anos a mais. Por que você não se concentra nisso, que é muito mais simples do que a questão da vida eterna?"."
A doença começa a chamar a atenção da grande imprensa. Ela foi reconhecida (ou inventada) oficialmente há uma década e afetaria hoje 2% dos americanos (sobretudo mulheres brancas). No site da fibromialgia na Internet (www.fmnetnews.com), são lembrados os critérios diagnósticos: dores corporais difusas durante três meses e vários pontos do corpo doloridos ao toque - no mínimo 11 numa lista de 18 localizações em várias regiões: pescoço, ombros, quadris, joelhos e cotovelos. Além disso, uma série de sintomas associados, um pouco incertos: fadiga, irritabilidade intestinal (qualquer coisa da diarréia à constipação), desordens do sono ou sono não-restaurador, dores após o exercício físico, dor de cabeça, cólicas menstruais e por aí vai.
A fibromialgia não tem causa conhecida e não produz alterações fisiológicas verificáveis. Os médicos estão divididos. Alguns aceitam a existência da doença e se dedicam a tratar os sintomas dela com analgésicos (inclusive opiáceos ou metadona). No extremo oposto, outros duvidam da existência de uma doença cuja única prova são as sensações relatadas pelos pacientes. A maioria dos médicos e psiquiatras se situa provavelmente no meio, perplexa.
A família da senhora recém-diagnosticada comunicara-me vários acontecimentos muito penosos que poderiam ser relacionados com o surgimento das dores. Segundo seus próximos, a senhora reagira a uma série de perdas e desastres com surpreendente indiferença e logo adoecera. Tentei levar a conversa pelo lado desses fatos recentes. A senhora não quis tocar no assunto. Para contornar essa recusa intransigente, expliquei-lhe que, mesmo que as dores estivessem relacionadas a acontecimentos infelizes, nem por isso elas seriam menos reais: aflições psíquicas podem produzir dores físicas perfeitamente autênticas. Acrescentei que, de qualquer forma, talvez não fosse inútil que ela conversasse um pouco sobre o período sofrido que acabava de atravessar. Não houve jeito, a senhora tinha sido surrada pelo destino, mas não estava disposta a considerar que seu corpo doído pudesse ser o resultado metafórico dessa surra. Ao contrário: a dor que ela sentia no corpo parecia ter a função específica de evitar questões, indagações e conversas.
Essa posição era bem compreensível. Imagine uma série de catástrofes em sua vida -como diz a expressão, uma dor de cabeça atrás da outra. Imagine agora que seja possível tomar a dor de cabeça ao pé da letra, ou seja, converter todos os seus malogros e problemas em dores físicas. Seu filho não passou de ano, você perdeu o emprego, seu parceiro sumiu e os sofrimentos psíquicos eventuais seriam resumidos por simples dores de cabeça.
Não seria maravilhoso? Curaríamos as dores da existência com um analgésico. A tranquilidade estaria nas estantes da farmácia da esquina e custaria o preço de uma Novalgina.
Logo nos dias que seguiram meus encontros com a senhora, os jornais da Costa Leste dos EUA revelaram a difusão crescente, entre os adolescentes da região, de um remédio usado como droga: o OxyContin. Trata-se de um opiáceo poderoso justamente recomendado no tratamento da fibromialgia. A venda do OxyContin é estritamente controlada, de forma que ele chega ao circuito paralelo das drogas sendo revendido por pacientes para quem ele foi prescrito. Curioso círculo, no qual artrites, ciáticas, fibromialgias etc. parecem solidárias de uma nova toxicomania.
Claro, no uso como droga, os comprimidos de OxyContin são pulverizados e inalados ou então diluídos e injetados -o que deve produzir um "barato" imediato. Mas não deixa de ser notável que uma das drogas do momento venha a ser não um alucinógeno ou qualquer coisa que altere a consciência, mas um analgésico. Como se a dor de viver pudesse aparecer hoje como uma dor física. E, portanto, sua cura consistisse em sedar a sensibilidade do corpo.
Em suma, talvez nossas dores espirituais estejam transformando-se em dores musculares. Não seria de estranhar. Afinal, definimos o bem-estar cada vez mais do lado do corpo e cada vez menos em termos psíquicos ou espirituais. Por que não aconteceria a mesma coisa com o mal-estar?
Uma piada que ouvi nestes dias resume a situação. Um fiel pergunta levando os olhos ao céu: "Senhor, quero entender, por favor: há ou não há vida após a morte? Há ou não há vida eterna?". Depois de ele muito insistir, eis que, enfim, as nuvens se abrem, aparece um raio de luz e uma voz profunda responde: "Meu filho, essa coisa de vida eterna é muito complicada. Mas posso garantir que, se fizer exercício regularmente, parar de fumar e se alimentar direito, você viverá três ou quatro anos a mais. Por que você não se concentra nisso, que é muito mais simples do que a questão da vida eterna?"."
Assinar:
Postagens (Atom)